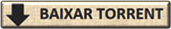Com raízes nas ditaduras brasileiras, a Polícia Militar mantém uma
estrutura autoritária e violenta. Em vez de proteger os cidadãos, serve aos
aparatos do Estado
Em 1964, o golpe de Estado desferido pelos
militares com amplo apoio e cooperação de elites civis – atualizando a aliança
civil-militar que nos anos 30 havia levado Getúlio Vargas ao poder - instaurou
uma perversa ditadura tanto mais potente, quanto mais institucionalizada
tornava-se a fusão entre justiça civil e militar, em termos de ideais e de
procedimentos práticos. A repressão, como nos regimes nazista e fascista na
Alemanha e na Itália, foi, aos poucos, vestindo máscaras de legalidade e
alterando gradualmente os seus aspectos relativos à liberdade individual e
política; até que sete anos depois passasse, como se sabe hoje, à matança
sistemática dos militantes de esquerda de menor visibilidade pública.
Em outra frente, redefinia-se a cidadania
através da criminalização/repressão de determinados comportamentos
destacando-se os chamados crimes contra a autoridade e de “não conformismo
sociopolítico”. Como num quartel, a disciplina, a hierarquia, e a correção
exemplar foram pouco a pouco sendo aplicadas indiscriminadamente pelo Estado
sobre a população. O historiador Carlos Fico lembra ainda que em 13 de março de
1967, Carlos Medeiros, ministro da Justiça do presidente general Castelo
Branco, com a ajuda do chefe do gabinete militar Ernesto Geisel redigiram a Lei
de Segurança Nacional legalizando a “Guerra interna” e permitindo que
brasileiros civis fossem aleatoriamente acusados e torturados pelo crime de
tentativa de subversão da ordem ditatorial estabelecida.
Polícia que espanca
Talvez valha o parêntesis de um amigo
sobre a única diferença que passa pela cabeça do homem que bate, quando quem
apanha é uma mulher e não outro homem: é que a vitória sobre ela é mais certa
ainda e, portanto, a satisfação do agressor mais plena. Na última semana foi a
vez dos professores em defesa de reformas no falido sistema de ensino do qual
fazem parte, e antes deles os integrantes do Black Bloc, linha de
frente civil no violento enfrentamento provocado pelas manifestações contra as
instituições políticas. Antes deles, há
pelo menos 25 anos, favelados, prostitutas, travestis, pobres, negros,
indígenas, moradores de rua, entre muitos outros, tem conhecido de bem perto a
mão forte do Estado. Como Clarice, todos nós, filhos da Constituição de 1988 e
de seu Estado Democrático de Direito, todos nós morremos um pouco.
Este período de 25 anos corresponde um
pouco mais ou pouco menos, ao tempo em que sociedade e Estado vem submetendo-se
ao pacto selado em 88, cujo legado autoritário pode ser encontrado na estrutura
jurídica, nas práticas políticas e na violência institucionalizada, com
consequências em quase todas as esferas da vida social brasileira.
“Era uma espécie de triunfo, mas não
isento de ambiguidades”. Clarice, novamente, falando de seu mundo interior, se
refere à liberdade na qual se vê lançada sem mesmo saber utilizar. De certa
forma, o fim do regime militar marca também uma vitória social em termos de
liberdade, mas igualmente cheia de contradições, cujo resultado individual e
coletivamente incidiu em décadas de silêncio. Negociada, a transição vendeu
direitos individuais, políticos e sociais negados durante vinte anos - como o
direito à greve, e à liberdade de imprensa, por exemplo - trouxe de volta os
exilados políticos, e devolveu o governo aos civis. Em troca, alçou José Sarney
à presidência, manteve a fiel Rede Globo de televisão como instituição
privilegiada em suas relações com o Estado, não julgou nem puniu nenhum agente
do Estado por perseguição, tortura, ou assassinato, e fechou os olhos para as
condenações civis e militares proferidas no período anterior.
Após décadas de exercício de uma
mentalidade autoritária no interior das Forças Armadas e no Judiciário, à base
da ideologia de Segurança Nacional, nenhuma reforma foi feita nestes setores e
muitos dos mesmos servidores se mantiveram em seus cargos, constituindo dia a
dia o fracasso brasileiro em construir instituições genuinamente democráticas.
Ou, diante da dificuldade de definir graus de democracia, a derrota de grande
parte da população que continuou recebendo tratamento autoritário e
discriminador por parte daqueles que servem à Justiça (judiciário, polícia,
sistema prisional) e que, como na ditadura, continuaram agindo mais para a
imposição de normas do que para a efetiva resolução de conflitos. Pode-se mesmo
dizer que uma cultura institucional arbitrária e violenta tornou-se marca de
grande parte da Polícia Militar que se comporta ainda hoje como um simples
órgão de defesa da ordem constituída, e não da cidadania que nem mesmo puderam
conhecer.
Revolta na era do tecnoconsumo
 Sobre essa geração e seu modo de viver e
de sentir, o escritor norte-americano Jonathan Franzien nota que “se uma pessoa
dedica sua existência a ser curtível e passa a encarnar um personagem bacana
qualquer para atingir tal fim, isso sugere que perdeu a esperança de ser amado
por aquilo que realmente é. E, se tiver êxito na tentativa de manipular os
outros para que seja curtido, será difícil que, em algum nível, não sinta
verdadeiro desprezo por aqueles que caíram em seu embuste”. Enfim, uma
sociedade incapaz de sentir amor é também uma sociedade incapaz de sentir ódio,
e se isso chega bem próximo do avesso da natureza humana, só lhes/nos resta
cinismo, apatia e, claro, silêncio e mais silêncio. Como num caso de amor,
quando não há brigas por tanto tempo, e vinte e cinco anos são apenas o mínimo
que podemos contar, é de se esperar que uma das partes, ao menos, esteja
vivendo uma fantasia, ou que algumas realidades não estejam sendo
verdadeiramente levadas em conta – parafraseando um dos romances do escritor
chamado “Liberdade”.
Sobre essa geração e seu modo de viver e
de sentir, o escritor norte-americano Jonathan Franzien nota que “se uma pessoa
dedica sua existência a ser curtível e passa a encarnar um personagem bacana
qualquer para atingir tal fim, isso sugere que perdeu a esperança de ser amado
por aquilo que realmente é. E, se tiver êxito na tentativa de manipular os
outros para que seja curtido, será difícil que, em algum nível, não sinta
verdadeiro desprezo por aqueles que caíram em seu embuste”. Enfim, uma
sociedade incapaz de sentir amor é também uma sociedade incapaz de sentir ódio,
e se isso chega bem próximo do avesso da natureza humana, só lhes/nos resta
cinismo, apatia e, claro, silêncio e mais silêncio. Como num caso de amor,
quando não há brigas por tanto tempo, e vinte e cinco anos são apenas o mínimo
que podemos contar, é de se esperar que uma das partes, ao menos, esteja
vivendo uma fantasia, ou que algumas realidades não estejam sendo
verdadeiramente levadas em conta – parafraseando um dos romances do escritor
chamado “Liberdade”.
Entre “elas” e coexistindo uma “visão
condescendente da vida convencional, humana – casar, ter filhos e, finalmente,
ser feliz”, fermentada desde o século XIX e que tanto asfixiava a alma de
Clarice Lispector, e certo “não saber o que fazer de si mesmo”, de sua
liberdade recém-adquirida e de quase insuportável tédio – que a escritora pôde
antecipar como melancolia e angústia de gerações posteriores, mulheres
atualmente chamam a si mesmas de vadias e vomitam toda a repressão engasgada em
um radicalismo confuso, como só elas poderiam fazer. O dever de ser feliz não
as convém, legitimidade e ética não bastam para uma existência cujo destino
parece estar fora de controle, e à violência social paga-se com a
autoviolentação do próprio corpo, da intimidade aberta e devassada nas ruas.
O austríaco Hans Gumbrecht em recente
passagem pelo Brasil lembrou ainda dos “piercings, tatuagens, mutilação
autoinfligida e, finalmente, ondas de suicídio; aqueles que são “suas próprias
vítimas” quase sempre associam (desde que ainda possam falar) essas atividades
com o forte desejo por testar a presença de seus corpos por meio da dor”. Elas,
as novas vadias, ao que parece, buscam transformar a moral social ainda vigente
da mulher-objeto-sexual, mulher-mera-reprodutora, mulher-esposa-submissa,
mulher-independente-carente-vagabunda, conciliando o modo de viver que pode
surgir dessa subversão com os acontecimentos mais contingentes do dia a dia.
Desde o ônibus lotado até o assédio grosseiro nas ruas, a sádica violência
policial, os esforços sobre humanos para alcançar bons salários, pen drives
perdidos e vídeos íntimos divulgados na internet, o peso do papel familiar
obrigatório e dos ideais de beleza.
“Para alguém com a sua formação, tendo em vista aonde a revolução e a ideologia levaram, provavelmente não poderia ser diferente. A liberdade só pode mesmo vir de dentro. A ânsia por esse estado de graça é que é a sua fonte de energia”, diria um biógrafo de Clarice Lispector, sobre sua indignação “apolítica” com o conservadorismo social. Ela mesma acrescentaria que “nem todos são bastante fortes para suportar não ter ambiente próprio, nem amigos” reais – eu diria hoje-, “para carregar duas almas em um só peito”. À vida plácida e burguesa, pode, talvez, faltar uma metade “carismática e selvagem”, que ao encontrar identificação ampla e inesperada pelas ruas e pela internet torna-se cada vez mais disposta a violentar e a violentar-se, faminta de saber mais de si: “mais do que dos outros, estamos precisando de nós mesmos”.
É pela via da dor que a juventude do
êxtase volta a ser protagonista da cena pública, não há alegria e risos
genuínos entre vadias, black blocs ou professores, a
felicidade se tornou mais profunda, como a de alguém que acaba de sair da
prisão. Não por acaso, a ditadura, a tortura, a guerrilha e a Comissão da
Verdade começam a fazer eco social, ao menos vinte anos após se constituírem
como tema acadêmico relevante em toda a América Latina. Não parece fácil
entender ou explicar que o Estado brasileiro tenha optado pela ditadura, a
sociedade, pelo golpe militar, ou por que a repressão legal não bastou às
autoridades entre 1964 e 1985, e como, evidentemente não basta agora.
Ainda assim, a maioria dos acusados nos
processos por crimes políticos durante a ditadura não ocorreram por
participação em ação armada contra o governo. Muito mais recorrente era a
acusação por crimes de associação ou opinião, combinados às campanhas de
desqualificação pessoal e de marginalização de gente considerada fora do padrão
moral imposto, sobretudo, gays, lésbicas e filhos e filhas de comunistas,
“herdeiros do mal”. Já dizia a filósofa Hannah Arendt que a radicalização está
relacionada não apenas à violência física e explícita, mas à potencialização ou
extinção daquilo que torna o homem Homem, daquilo que lhe permite autonomia: o
pensar, a espontaneidade, a liberdade humana. A radicalização “está sempre
relacionada à dignidade humana, à pessoa jurídica, mas também à pessoa moral”,
como, por exemplo, aconteceu com “os prisioneiros judeus obrigados pelos
nazistas a fazer escolhas entre alternativas criminosas” como incinerar ou
ordenar vagões cheios de judeus para as câmaras de gás.
Esse pacto civil-militar iniciado na década
de 30 e aperfeiçoado durante a ditadura, com tudo o que ele implica para a
formação técnica e psicológica dos agentes da repressão, não se rompe
magicamente com a formalização da democracia em 1985, nem com a nova
Constituição em 1988. A violência no trato com a sociedade se mantém
institucionalizada naquilo que naturalmente chamamos hoje de “entulho
autoritário”, exemplificado pela permanência de dispositivos como o Ato de
Disposição Constitucional Transitório (ADCT) 23, que dispõe sobre a realocação dos
censores, personagens simbólicos da ditadura, em outros cargos da Polícia
Federal do novo Estado Democrático.
Além disso, o cientista social Ruy Mauro
Marini, ainda no ano de promulgação da Carta Magna, denunciava como o próprio
processo eleitoral de que resultou a Constituinte havia cerceado a
possibilidade de uma autêntica representação popular, ao não contemplar a
eleição de candidatos avulsos, propostos pelas organizações sociais e de classe
e pela cidadania em geral, em benefício do sistema partidário artificialmente
imposto pela ditadura. E continua: “A conjuntura muito particular na qual se
realizaram as eleições de 1986 – signadas pelo Plano Cruzado – teria
contribuído por sua vez, para deformar a configuração da representação política
na Constituinte, ao conferir esmagadora maioria ao PMDB - no governo, desde o
ano anterior, mediante eleições indiretas”. Assim, apesar de um ou outro
lampejo de independência, a Constituinte se fez dentro do quadro institucional
surgido em 1964, isto é, sob a pressão de um executivo centralizador e a das
Forças Armadas. Hoje, soma-se a isso, o fato de que entre os mais de cem
dispositivos não regulamentados desta Constituição estão o piso salarial
nacional para professores e agentes de saúde da rede pública determinados
apenas em emendas constitucionais.
Linguagem de violência
 No conto de Clarice Lispector, sobre a
morte de Mineirinho, a escritora dá vida a uma ideia mais antiga, presente em
outros textos seus, de que não há o direito de punir, mas apenas poder de
punir: o Estado pune porque é mais forte que os homens, assim como a natureza
da representação do crime na mente humana é o que há de mais instável e
relativo, já que a punição existe para defender as instituições, como uma
necessidade destas pra se manter no poder. O trecho é grande, mas vale à pena
até com o fôlego suspenso:
No conto de Clarice Lispector, sobre a
morte de Mineirinho, a escritora dá vida a uma ideia mais antiga, presente em
outros textos seus, de que não há o direito de punir, mas apenas poder de
punir: o Estado pune porque é mais forte que os homens, assim como a natureza
da representação do crime na mente humana é o que há de mais instável e
relativo, já que a punição existe para defender as instituições, como uma
necessidade destas pra se manter no poder. O trecho é grande, mas vale à pena
até com o fôlego suspenso:
“Essa justiça que vela meu sono, eu a
repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me
salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim
como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o
meu amor, guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter
esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser
erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos. [...] Mas só feito
doidos, e não como sonsos, o conhecemos. É como doido que entro pela vida que
tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo o que é perigoso
compreender, e como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma
quando vejo que o radium se irradiará de qualquer modo, se não for pela
confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem
de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria oitocentos policiais com
oitocentas metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse
uma justiça um pouco mais doida. Uma que levasse em conta que todos temos que
falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou, ele
já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma
justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, e que um
homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se
olhasse a si própria, e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e
por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro
homem: para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de
fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, e
que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem
querendo eliminar um criminoso, ele está cometendo o seu crime particular, um
longamente guardado. Na hora de matar um criminoso - nesse instante está sendo
morto um inocente. Não, não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram
se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de
caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais
áspero e mais difícil: quero o terreno”.
Saiba
Mais – Links