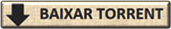Tradução: Katarina Peixoto
Os países desenvolvidos são velhos defensores do “faça o que
digo, não faça o que eu faço”. Um artigo de fé da ortodoxia neoliberal, eixo do
Consenso de Washington, era o lugar que ocupava o Banco Central em meio a um
sistema financeiro e econômico desregulado. Neste marco, a independência ou
autonomia do banco central era sagrada.
A política monetária de um país
devia estar em mãos de técnicos especializados e livres da influência dos
governos de turno, sempre sujeitos à demagogia e à lógica do curto prazo. E o
eixo central – muitas vezes exclusivo – da Carta Orgânica do Banco Central era
o combate à inflação.
A crise econômica que estourou em 2007-2008 está mudando as coisas. Com uma dívida descomunal nos Estados Unidos, Japão e em muitos países da União Europeia, com injeções de dinheiro eletrônico para sanear o sistema financeiro, os Bancos Centrais do mundo desenvolvido estão adotando um intervencionismo adaptado às necessidades dos governos. Esta mudança se reflete nos meios onde se discute cada vez mais abertamente a necessidade de esquecer o velho parâmetro e substituí-lo por um diferente adaptado à nova realidade.
Em um artigo publicado recentemente no Financial Times, sugestivamente intitulado “A era dos bancos centrais independentes está chegando ao fim”, o economista chefe do HSBC, Stephen King, aponta nesta direção ao dizer que “não se pode seguir falando de independência dos bancos porque eles criam ganhadores e perdedores”.
King não é uma exceção. O ex-assessor da Reserva Federal de Nova York, Zoltan Pozsar, e o economista que cunhou o termo “banca nas sombras”, Paul Mc Culley, sugeriram em um artigo sobre a emissão de dinheiro eletrônico ou aceleração quantitativa, que os bancos centrais devem trabalhar seguindo as ordens dos ministérios de finanças para coordenar medidas fiscais e monetárias que ajudem a lidar com a crise atual.
O Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, arrematou este debate dizendo que, na verdade, tratava-se de um equívoco, uma ilusão ou um engano deliberado. “Não há realmente instituições independentes. Todas têm que prestar contas. A questão é para quem”, disse Stiglitz em uma conferência na Índia neste mês de janeiro.
Gritos de batalha
Desde a contração de crédito de 2007, a Reserva Federal nos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra estimularam a economia e alavancaram os bancos com diversas medidas, entre elas a aceleração quantitativa, uma emissão eletrônica de dinheiro que procura expandir o crédito para estimular o setor produtivo e o consumo doméstico. O catedrático de sistemas financeiros da Universidade de Negócios de Manchester, Ismail Erturk, considera que estas medidas deixam claras as limitações do modelo autonômico bancário.
É certo que havia uma relativa autonomia no manejo institucional dos bancos. Mas não nas nomeações em nível ideológico. Para ser presidente de um banco era preciso ser monetarista. Se o candidato fosse keynesiano estava fora. Não surpreende então que se definisse a inflação como controle de preços ao consumidor e se ignorasse o impacto que tinham outras apreciações dos preços como as bolhas especulativas imobiliárias ou financeiras. O resultado foi desastroso”, disse Erturk à Carta Maior.
A hecatombe veio com a queda do Lehman Brothers em setembro de 2008 que forçou os governos a intervir para impedir uma corrida bancária e uma depressão mundial. O superendividamento atual do mundo desenvolvido vem desse momento. Mas nem com aquela intervenção fiscal massiva se conseguiu curar a enfermidade.
O Banco Central Europeu (BCE) emprestou mais de um trilhão de euros aos bancos ameaçados por dívidas impagáveis contraídas na época do dinheiro fácil com o soterrado objetivo de salvar seus credores, as instituições financeiras dos países do norte, desde a Alemanha até o Reino Unido.
A emissão de dinheiro eletrônico – a máquina impressora de cédulas deste século, tão criticada no século passado quando usada na América Latina – está na ordem do dia. Nos Estados Unidos, a emissão supera os dois trilhões de dólares. No Reino Unido, os 600 bilhões.
O último caso deste novo intervencionismo é o Japão. Com um forte respaldo democrático das eleições de dezembro, o novo primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, modificou a tradicional independência do Banco do Japão para comprometê-lo com seu gigantesco programa de estímulo fiscal e aumentar as metas inflacionárias que passaram de um estreito 1% para um ligeiramente mais folgado 2%.
Para um dos mais duros defensores da ortodoxia, o presidente do Banco Central da Alemanha, Jens Weidmann, a conduta do governo japonês foi a gota que fez o copo d’água transbordar. “Nos casos do Japão e da Hungria estamos vendo uma clara ingerência na política do banco central que ameaçava a autonomia que deve reger seu funcionamento. Isso está levando a uma crescente politização de sua conduta”, disse Weidmann.
E a América Latina?
A crise econômica que estourou em 2007-2008 está mudando as coisas. Com uma dívida descomunal nos Estados Unidos, Japão e em muitos países da União Europeia, com injeções de dinheiro eletrônico para sanear o sistema financeiro, os Bancos Centrais do mundo desenvolvido estão adotando um intervencionismo adaptado às necessidades dos governos. Esta mudança se reflete nos meios onde se discute cada vez mais abertamente a necessidade de esquecer o velho parâmetro e substituí-lo por um diferente adaptado à nova realidade.
Em um artigo publicado recentemente no Financial Times, sugestivamente intitulado “A era dos bancos centrais independentes está chegando ao fim”, o economista chefe do HSBC, Stephen King, aponta nesta direção ao dizer que “não se pode seguir falando de independência dos bancos porque eles criam ganhadores e perdedores”.
King não é uma exceção. O ex-assessor da Reserva Federal de Nova York, Zoltan Pozsar, e o economista que cunhou o termo “banca nas sombras”, Paul Mc Culley, sugeriram em um artigo sobre a emissão de dinheiro eletrônico ou aceleração quantitativa, que os bancos centrais devem trabalhar seguindo as ordens dos ministérios de finanças para coordenar medidas fiscais e monetárias que ajudem a lidar com a crise atual.
O Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, arrematou este debate dizendo que, na verdade, tratava-se de um equívoco, uma ilusão ou um engano deliberado. “Não há realmente instituições independentes. Todas têm que prestar contas. A questão é para quem”, disse Stiglitz em uma conferência na Índia neste mês de janeiro.
Gritos de batalha
Desde a contração de crédito de 2007, a Reserva Federal nos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra estimularam a economia e alavancaram os bancos com diversas medidas, entre elas a aceleração quantitativa, uma emissão eletrônica de dinheiro que procura expandir o crédito para estimular o setor produtivo e o consumo doméstico. O catedrático de sistemas financeiros da Universidade de Negócios de Manchester, Ismail Erturk, considera que estas medidas deixam claras as limitações do modelo autonômico bancário.
É certo que havia uma relativa autonomia no manejo institucional dos bancos. Mas não nas nomeações em nível ideológico. Para ser presidente de um banco era preciso ser monetarista. Se o candidato fosse keynesiano estava fora. Não surpreende então que se definisse a inflação como controle de preços ao consumidor e se ignorasse o impacto que tinham outras apreciações dos preços como as bolhas especulativas imobiliárias ou financeiras. O resultado foi desastroso”, disse Erturk à Carta Maior.
A hecatombe veio com a queda do Lehman Brothers em setembro de 2008 que forçou os governos a intervir para impedir uma corrida bancária e uma depressão mundial. O superendividamento atual do mundo desenvolvido vem desse momento. Mas nem com aquela intervenção fiscal massiva se conseguiu curar a enfermidade.
O Banco Central Europeu (BCE) emprestou mais de um trilhão de euros aos bancos ameaçados por dívidas impagáveis contraídas na época do dinheiro fácil com o soterrado objetivo de salvar seus credores, as instituições financeiras dos países do norte, desde a Alemanha até o Reino Unido.
A emissão de dinheiro eletrônico – a máquina impressora de cédulas deste século, tão criticada no século passado quando usada na América Latina – está na ordem do dia. Nos Estados Unidos, a emissão supera os dois trilhões de dólares. No Reino Unido, os 600 bilhões.
O último caso deste novo intervencionismo é o Japão. Com um forte respaldo democrático das eleições de dezembro, o novo primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, modificou a tradicional independência do Banco do Japão para comprometê-lo com seu gigantesco programa de estímulo fiscal e aumentar as metas inflacionárias que passaram de um estreito 1% para um ligeiramente mais folgado 2%.
Para um dos mais duros defensores da ortodoxia, o presidente do Banco Central da Alemanha, Jens Weidmann, a conduta do governo japonês foi a gota que fez o copo d’água transbordar. “Nos casos do Japão e da Hungria estamos vendo uma clara ingerência na política do banco central que ameaçava a autonomia que deve reger seu funcionamento. Isso está levando a uma crescente politização de sua conduta”, disse Weidmann.
E a América Latina?
Os países em desenvolvimento têm
historicamente uma conduta mais sinuosa, flutuando entre a ortodoxia neoliberal
e as próprias urgências de sua economia. Sinal de uma ruptura no consenso que
predominava antes do estouro financeiro de 2008, os bancos centrais e
reguladores financeiros dos chamados “países emergentes” assinaram em 2011 no
México a declaração de Maya para a inclusão financeira dos setores excluídos da
sociedade. O Brasil se encontrava entre os países que anunciaram iniciativas
concretas para expandir o acesso ao crédito a amplas parcelas da população.
No ano passado, Argentina e Bolívia modificaram a carta orgânica que regulamenta o funcionamento de seus bancos centrais mantendo o princípio de preservação do valor da moeda – evitando episódios inflacionários que erodissem seu valor -, mas acrescentando a seu mandato a necessidade de desenvolver políticas que contribuam ao desenvolvimento econômico e social do país. Em 2008, a nova Constituição equatoriana eliminou a autonomia do Banco Central do Equador.
“A redefinição dos objetivos que está se ensaiando vai pelo bom caminho, mas é preciso lembrar que há limites sobre o que o um Banco Central pode realmente fazer. Além disso, na América Latina, um objetivo essencial dos bancos centrais é a questão cambial frente às flutuações que sofrem suas moedas”, assinalou Erturk.
A mudança de paradigma dos Bancos Centrais na América Latina foi chamada de populista e demagógica por políticos, funcionários e colunistas do primeiro mundo. Curiosamente, hoje. Quando no mundo desenvolvido se sugere ou se pratica abertamente uma mudança de modelo, ninguém se lembra do epíteto.
No ano passado, Argentina e Bolívia modificaram a carta orgânica que regulamenta o funcionamento de seus bancos centrais mantendo o princípio de preservação do valor da moeda – evitando episódios inflacionários que erodissem seu valor -, mas acrescentando a seu mandato a necessidade de desenvolver políticas que contribuam ao desenvolvimento econômico e social do país. Em 2008, a nova Constituição equatoriana eliminou a autonomia do Banco Central do Equador.
“A redefinição dos objetivos que está se ensaiando vai pelo bom caminho, mas é preciso lembrar que há limites sobre o que o um Banco Central pode realmente fazer. Além disso, na América Latina, um objetivo essencial dos bancos centrais é a questão cambial frente às flutuações que sofrem suas moedas”, assinalou Erturk.
A mudança de paradigma dos Bancos Centrais na América Latina foi chamada de populista e demagógica por políticos, funcionários e colunistas do primeiro mundo. Curiosamente, hoje. Quando no mundo desenvolvido se sugere ou se pratica abertamente uma mudança de modelo, ninguém se lembra do epíteto.
Saiba
Mais – Documentários:
A Ascensão
do Dinheiro (The Ascent of Money)
Niall Ferguson é um historiador britânico
especialista em história financeira e econômica. Professor de economia, de
mercado financeiro e de história econômica na Universidade de Harvard. Ferguson
é autor de dois livros que analisam as crises do mercado financeiro global como
consequências da expansão do crédito fácil: "The cash nexus", de
2001, e "The ascent of money", de 2008.
Baseado no livro de Niall
Ferguson e apresentado pelo próprio autor, “A Ascensão do Dinheiro” explica a
história financeira do mundo, explorando como o dinheiro moldou o caminho do
desenvolvimento humano, como nosso complexo sistema financeiro atual evoluiu
através dos séculos e como a mecânica desse sistema econômico global trabalha
para criar riquezas aparentemente sem limites – ou perdas catastróficas.
Ferguson viaja por vários
países explicando as origens do mundo financeiro que conhecemos hoje – crédito,
ações, títulos, seguros e mercado imobiliário. Na Itália, desvenda a origem do
crédito e débito e nos mostra por que os sistemas de crédito são indispensáveis
para qualquer civilização. Apresentando fatos históricos, Ferguson nos conta
sobre o advento dos títulos de governos, os quais financiaram guerras. Traçando
paralelos entre eventos históricos e atuais, explica-nos como o mercado de
ações produz bolhas e porque ninguém pode efetivamente prever quando elas vão
acontecer. Em Nova York, ele pede ao gênio financeiro George Soros para
explicar venda a descoberto de derivativos, um conceito que Soros introduziu no
mercado de ações.
Por meio dessa reveladora história,
aprendemos os fundamentos econômicos que regem as hipotecas de baixa qualidade
e derivativos de crédito, e entendemos como a economia chinesa provavelmente
dominará o mundo.
A história do dinheiro
encontra-se de fato no centro da história humana, com a força econômica
determinante do controlo político, das guerras com o intuito de criar riqueza e
barões financeiros que influenciam o destino de milhões.
Direção: Adrian Pennin
Ano: 2010
Áudio: Inglês / Legendado
Duração: 48 minutos cada episódio
Clique
no nome do episódio para assistir on-line
Saiba
Mais – Filmes:
Wall Street
- Poder e Cobiça
Nova York, 1985. Bud Fox (Charlie
Sheen) é um jovem e ambicioso corretor que trabalha no mercado de ações. Após
várias tentativas ele consegue falar com Gordon Gekko (Michael Douglas), um
inescrupuloso bilionário. Durante a conversa Bud sente que precisa dar alguma
dica muito quente para ter a atenção de Gekko e então lhe fala o que seu pai,
Carl Fox (Martin Sheen), um líder sindical, tinha lhe dito, que a Bluestar, a
companhia aérea para a qual trabalha, ganhou um importante processo. Esta
informação não foi ainda divulgada oficialmente, mas quando isto acontecer as
ações terão uma significativa alta. Gekko o adota como discípulo e logo Bud
trabalha secretamente para Gekko, abandonando qualquer escrúpulo, ética e meios
lícitos, pois só quer enriquecer. Bud obtém sucesso, o que faz seu padrão de
vida mudar. Além disto se envolve Darien Taylor (Daryl Hannah), uma decoradora
em ascensão, mas se os ganhos são bem maiores, os riscos também são.
“A história é o retrato de uma época em que o mercado
americano passava por uma onda de otimismo que se encerrou com a crise de 1987
e que, assim como a crise de 2008, provocou perdas para muitos investidores e
despertou a ira contra Wall Street.
Nem se cogitava na época que o problema da falta de
ética e a sede de enriquecer a qualquer custo poderia ir mais longe, chegando
também às empresas, como mostraram as fraudes cometidas pela companhia de
energia Enron. Ou mesmo como esse mercado acabaria envenenado pela ganância que
levou ao exagero da bolha das operações subprime, de empréstimos imobiliários
de alto risco. Ou que o simpático e insuspeito Bernard Madoff, presidente da
Nasdaq, se mostraria um golpista que manteve por anos uma pirâmide que deu
prejuízos de US$ 60 bilhões a milhares de investidores”. (Angelo
Pavini)
Diretor: Oliver Stone
Ano: 1987
Duração: 126 minutos
Wall Street - O Dinheiro Nunca Dorme
Diretor: Oliver Stone
Ano: 2010
Ano: 2010
Duração: 133 minutos
Saiba
Mais – Links: