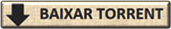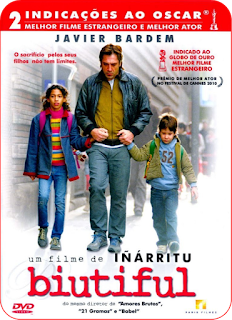Fantasma da ditadura de Pinochet continua a povoar o imaginário do Chile 40
anos depois do golpe.
O início da década de 1970, o Chile era visto como uma
exceção na América Latina, e orgulhava-se disto. Desde 1925 mantinha a mesma
ordem constitucional e elegia seus representantes democraticamente. Os
principais partidos haviam sido fundados há décadas, organizavam-se por padrões
ideológicos (esquerda, centro, direita) e tinham sólida base social. Os movimentos
estudantil e sindical eram fortes. Os governos aplicavam políticas consideradas
ainda hoje avançadas, como a reforma agrária promovida no governo do
presidente Eduardo Frei (1964-1970). Por fim, acreditava-se no profissionalismo
dos militares, que mantinham um distanciamento do ambiente político considerado
adequado ao respeito à supremacia da autoridade civil.
Este contexto levou a maioria da
esquerda a crer que era possível avançar em reformas estruturais rumo ao
socialismo mantendo a institucionalidade democrática. Seu líder era Salvador
Allende, médico, maçom, fundador do Partido Socialista (PS), político de larga
experiência e eleito presidente em 1970 pela Unidade Popular (UP), em aliança
com o Partido Comunista e o Partido Radical. Allende obteve 36,22% dos votos,
seguido pelo candidato da direita, Jorge Alessandri Rodriguez, do Partido Nacional
(34,9%), e pelo democrata-cristão Radomiro Tomic (27,81%). O Congresso
Nacional, composto por larga maioria oposicionista, ratificou a vitória de
Allende - medida exigida pela legislação eleitoral então em vigor.
Ao contrário do socialismo real
- inclusive de Cuba, que vivia em júbilo revolucionário desde 1959 - Allende
falava em uma "via chilena ao socialismo", na qual existissem
pluralismo, democracia e liberdade. Mas também se diferenciava da social-democracia
europeia, que abrira mão do socialismo.
Os tempos eram turvos para as
ideias de Salvador Allende. Vivia-se a Guerra Fria e, desde sua eleição, os
Estados Unidos assumiram a tarefa de sufocar o governo da UP, apoiando
oposicionistas na criação do que ficou conhecido depois como um "cenário
de caos" no Chile. Liberados na década passada, documentos do Departamento
de Estado norte-americano comprovam o envolvimento direto do presidente Richard
Nixon e de seu secretário de Estado, Henri Kissinger, em tratativas pela derrubada
de Allende desde 1970. Foi estreita a participação da embaixada norte-americana
na trama golpista. Some-se a isto a indisposição da classe alta e de parte da
classe média chilenas com a agenda econômica socialista e com a intensa
agitação popular do período. A preocupação com a "ordem" marca a
cultura política chilena e, mirando com os olhos de hoje, parece ingênuo
acreditar que tal plataforma política, num país conservador cujo lema pátrio é
"Pela razão ou pela força", não resultaria num golpe de Estado.
O golpe de 11 de setembro de
1973 cinde e traumatiza a sociedade chilena, e apresenta ao mundo a soturna
personagem de Augusto Pinochet, um militar de trajetória medíocre e dado ao
carreirismo, que fora nomeado Comandante-em-Chefe do Exército por Allende
poucas semanas antes do golpe. O cenário da violência golpista, com Allende e
alguns poucos aliados civis resistindo em armas ao bombardeio do palácio de La
Moneda, até o desfecho com a morte do presidente, foi de confronto entre duas
personalidades díspares. De um lado, um general que não hesitou em usar da violência
e da perfídia para chegar ao poder; do outro, um presidente fiel à ordem
constitucional e que pagou com a vida a lealdade do seu povo, como disse no seu
discurso de despedida. A truculência militar enterrou o governo democrático e
constitucional.
Mas a ditadura chilena também se
caracterizou pela chamada "modernização conservadora". Junto a
economistas ortodoxos influenciados por Milton Friedman, os "Chicago
boys", Pinochet fez do Chile um pioneiro laboratório de políticas neoliberais,
privatizando, abrindo a economia e reduzindo direitos sociais e trabalhistas a
níveis apenas possíveis num cenário de extrema repressão política. Como
resultado, enquanto os países vizinhos viviam recessões fenomenais, o Chile
experimentou altos índices de crescimento econômico, alicerçados na abertura da
economia ao mercado externo, na prioridade à produção e à exportação de commodities
(como cobre, frutas e salmão) e de produtos industrializados com baixa
tecnologia agregada (como os vinhos), o que reduziu o seu parque industrial.
Para as classes alta e média, a situação representou novas possibilidades de
consumo, comparáveis aos países desenvolvidos. Em contrapartida, o índice de pobreza
subiu de 20% da população em 1973 para 40% em 1990. Para estes, restava a baixa
qualidade dos serviços públicos, como a previdência, a saúde e a educação.
Pinochet deixou o governo do
Chile em 1990, depois de derrotado em um plebiscito dois anos antes sobre sua
permanência no poder por mais oito anos. Sucedeu-o a Concertación, coalizão de
partidos de centro-esquerda liderada pelos democrata-cristãos e pelos
socialistas. Entretanto, 43% dos chilenos votaram pela permanência de Pinochet
no poder em 1988, o que demonstra sua popularidade duradoura e incomum em face
de outros ditadores do Cone Sul.
Durante o governo da
Concertación, o Estado chileno promoveu diversas iniciativas em prol da
"verdade e da reparação das violações dos direitos humanos cometidas na
ditadura", conseguindo, nesta matéria, resultados muito mais importantes
dos que os vistos até agora no Brasil. Já em 1990, poucos meses após sua posse,
o presidente Patrício Aylwin criou a Comissão Nacional de Verdade e
Reconciliação, que apresentou relatório no ano seguinte, detalhando casos de
violação dos direitos humanos ocorridos após 1973. A partir de 1992, a
Corporação Nacional de Reparação e Reconciliação, criada pelo governo nacional,
deu continuidade ao trabalho de identificação das violações da ditadura e
estabeleceu pensões e indenizações para vítimas e familiares de vítimas. Em
2003, o presidente socialista Ricardo Lagos apresentou o documento "Não há
amanhã sem ontem", que deu origem à Comissão Nacional sobre Prisão
Política e Tortura, que novamente realizou importantes investigações.
Militares envolvidos nas
violações dos direitos humanos durante a ditadura foram punidos por tribunais
chilenos, entre eles Manuel Contreras, chefe da Dina, a polícia política de
Pinochet. O ditador procurou manter uma segura distância destes casos,
imputando responsabilidades apenas aos seus antigos subordinados. Mas, em
1998, foi detido enquanto fazia tratamento de saúde em Londres, após pedido de
extradição para a Espanha por crimes de genocídio. Tal situação aumentou a
divisão dos chilenos: os partidários de Pinochet alegavam violação à soberania
nacional, enquanto seus opositores e vítimas comemoravam o vexame
internacional. Após complicada tratativa diplomática, com o governo chileno
atu-ando contra a extradição, Pinochet regressou ao Chile alegando que sua
saúde frágil o impedia de responder em juízo.
Outro 11 de setembro - data do
golpe de 1973 - complicaria definitivamente a vida de Pinochet. Após sofrerem o
maior atentado terrorista de sua história, em 2001, os Estados Unidos
iniciaram uma varredura bancária atrás de casos de lavagem de dinheiro e de
financiamento ao terrorismo. Vieram assim a público contas secretas de Pinochet
no Riggs Bank, em Washington, abertas com identidades e passaportes falsos.
Progressivamente, outras contas do ditador e de sua esposa e filhos apareceram
em diversos países. Sem comprovar a origem dos recursos, foram processados por
corrupção pela justiça chilena. Quando morreu, em 10 de dezembro de 2006 - Dia
Internacional dos Direitos Humanos - Pinochet ainda respondia a processos. No
ano seguinte, sua esposa e os cinco filhos foram presos por corrupção.
Allende e Pinochet ocupam
lugares distintos na atual memória chilena. Em pesquisas realizadas no Chile em
2006, 82% dos entrevistados responderam que a imagem que Pinochet lega para a
história é a de um ditador, e os que o viam como "um dos melhores
presidentes" do país caíram de 27% para 12% em dez anos. Já a presidência
de Allende foi considerada como "um bom governo com ideias mal
aplicadas" por 63% dos entrevistados em 2003. Em 2008, ano do seu
centenário, Allende foi eleito, em um programa de TV, o chileno mais importante
da história. Em 2010, 67,7% dos entrevistados de uma pesquisa nacional
acreditavam que Pinochet sempre soube das violações dos direitos humanos.
O Chile atual é muito diverso do
país deixado por Salvador Allende. Apesar da expressiva redução da pobreza, resultante
do aumento dos investimentos sociais nos governos da Concertación, os chilenos
desconfiam das instituições, clamam por qualidade da democracia e melhores
serviços públicos. O PS de Allende abraçou o reformismo social-democrata,
combinando o respeito às regras da democracia e à economia de mercado com políticas
públicas redistributivas, mas abandonando a ruptura com a ordem capitalista que
caracterizava a estratégia pré-1973.
Rodrigo Freire de Carvalho e Silva é Professor de
Ciência Política na Universidade Federal da Paraíba e Autor de A Tranformação
da Esquerda Latino-Americana. Um Estudo Comparado do Partido dos Trabalhadores
(PT) No Brasil e do Partido Socialista (PSCH) no Chile (Editora UFPB,
2013).
Saiba Mais - Bibliografia
BANDEIRA, Luiz Alberto Muniz. A fórmula para o caos. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008,
GARCES, Juan. Allende e as armas da política São Paulo: Scritta
Editoral, 1993.
MUNUZ, Heraldo. A sombra do ditador. Rio de Janeiro: Zahar, 2010,
VERDUGO, Patrícia. A caravana da morte. Rio de Janeiro: Revan, 2001.
Saiba Mais – Links
Saiba Mais – Filmes
A Batalha do Chile - A Luta de Um Povo Sem Armas
Patrício Guzmán foi além dos temas espetaculares, filmando desde
assembleias de fábricas, passando por trabalhadores do campo, moradores de
bairros construindo um abastecimento alternativo, até militantes de direita. É
um registro e uma análise bastante completa do que foi a caminhada chilena pela
via democrática ao socialismo, abordando temas difíceis como as
nacionalizações, o apoio ambíguo da presidência ao processo de construção do
"poder popular" que se dava com as ocupações de fábricas e
latifúndios e a construção da participação direta através de assembleias locais
e regionais, e as contradições entre este poder popular e um Estado que acabou
paralisado pela maioria conservadora do Congresso e as ações de sabotagem
apoiadas pela CIA e pelas elites. Com o golpe em 1973, Guzmán se refugiou em
Cuba, onde terminou de editar a terceira parte do documentário apenas em 1979.
Foram praticamente 10 anos de trabalho.
Direção: Patrício
Guzmán
Ano: 1975 - 1977 - 1979
Ano: 1975 - 1977 - 1979
Áudio: Espanhol/Legendado
A Insurreição da Burguesia (97 min. 482 MB)
“Salvador Allende põe em
marcha um programa de profundas transformações sociais e políticas. Desde o
primeiro dia a direita organiza contra ele uma série de greves enquanto a Casa
Branca o asfixia economicamente. Apesar do boicote, em março de 1973 os
partidos que apoiam Allende obtém mais de 40% dos votos. A direita compreende
que os mecanismos legais já não servem. De agora em diante sua estratégia será
o golpe de estado”. (Patrício Guzmán)
O Golpe de
Estado (88 min. 386 MB)
“Entre março e setembro de
1973 a esquerda e a direita se enfrentam nas ruas, nas fábricas, nos tribunais,
nas universidades, no congresso e nos meios de comunicação. A situação se torna
insustentável. Os Estados Unidos financiam a greve dos caminhoneiros e fomentam
o caos social. Allende tenta, sem sucesso, um acordo com as forças da
Democracia Cristã. Os militares começam a conspirar em Valparaíso. Um amplo
setor da classe média apoia o boicote e a guerra civil. Em 11 de setembro
Pinochet bombardeia o palácio do Governo”. (Patrício Guzmán)
O Poder Popular (79 min. 364 MB)
O Poder Popular (79 min. 364 MB)
“A margem dos grandes
acontecimentos narrados nos episódios I e II acontecem também outros fenômenos
originais, às vezes efêmeros, incompletos, contatos nesta terceira parte.
Numerosos setores da população e, em particular, as camadas populares que
apoiam Allende organizam e põem em marcha uma série de ações coletivas:
armazéns comunitários, cadeias industriais, comitês camponeses etc. com a
intenção de neutralizar o caos e superar a crise. Essas instituições, em sua
maioria espontâneas, representam um ‘estado’ dentro do Estado”. (Patrício Guzmán)
NO
Direção: Pablo Larraín
Áudio: Espanhol/Legendado
Duração: 117 minutos
Missing - Desaparecido
 Num restaurante em Santiago do Chile, um jovem jornalista norte-americano,
residente nesse país, acaba escutando uma conversa na mesa ao lado, entre um
agente da CIA e militares chilenos, que deixa clara a participação do governo
norte-americano no golpe militar que depôs o governo socialista de Salvador
Allende e inaugurou a ditadura do general Augusto Pinochet.
Num restaurante em Santiago do Chile, um jovem jornalista norte-americano,
residente nesse país, acaba escutando uma conversa na mesa ao lado, entre um
agente da CIA e militares chilenos, que deixa clara a participação do governo
norte-americano no golpe militar que depôs o governo socialista de Salvador
Allende e inaugurou a ditadura do general Augusto Pinochet.
A obra de Costa Gavras focaliza inicialmente o cotidiano do jornalista no
Chile, até seu desaparecimento, dias após o golpe de Estado do general
Pinochet. O filme prossegue até o final com a busca desesperada do pai e da
mulher do jornalista, na tentativa de encontrá-lo.
O Chile pós-golpe de Estado, os primeiros dias da repressão e todo horror
da ditadura chilena, considerada uma das mais violentas da América Latina, são
fielmente retratados pelo filme, que venceu a Palma de Ouro e o prêmio de
melhor ator no festival de Cannes, além do Oscar de melhor roteiro adaptado...
Direção: Costa Gavras
Ano: 1982
Duração: 117 minutos
Estado de
Sítio
Direção: Costa Gavras
Ano: 1972
Áudio: Francês/Legendado


.png)