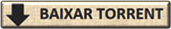Herança
medieval
Exposta ao
mundo no início do século XVIII, a Maçonaria teria suas raízes na aproximação
entre corporações de ofício e ordens como a dos templários.
Ziéde C.
Moreira
Alguns autores acreditam que as atividades maçônicas tenham existido nos
tempos da Antiguidade, citando indícios no cenário cultural dos mundos egípcio,
hebreu, grego e romano. Mas suas raízes estão situadas mais claramente na
Europa da Idade Média.
Nesse período surgiram as universidades,
as companhias de comércio e as corporações de ofício, sociedades fechadas que
reuniam trabalhadores especializados. Durante a Idade Média multiplicaram- se
também as chamadas Ordens religiosas e as militares. Para completar o cenário,
a Europa vivia inquieta pela expansão do islamismo. Para expulsar os muçulmanos
da Terra Santa, os cristãos promoveram, a partir do século XI, as cruzadas.
Antes de iniciar-se a segunda cruzada
(1147-1149), alguns remanescentes da anterior, especialmente nove cavaleiros
franceses, que elegeram Hugo de Paiens
como seu primeiro grão-mestre, fundaram em 1118 a Ordem dos Cavaleiros do
Templo de Jerusalém, também conhecida como "Ordem do Templo".
Ao longo de duzentos anos, os templários
desenvolveram atividades militares, culturais e econômicas que lhes renderam
uma enorme fortuna - e despertaram atrozes inimizades. Em 1307, instigado pelo
rei francês Felipe IV, o Belo, o Papa Clemente V declarou a ordem proscrita.
Seu último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo em Paris em 1314,
enquanto o rei Felipe apossava-se dos bens dos templários.
Grande parte dos cavaleiros que escaparam
da perseguição fugiu para a Escócia, onde ampliaram o ponderável apoio material
e cultural (que, ali, já acontecia) à Corporação de Ofício integrada pelos
profissionais da
construção arquitetural.
Os construtores, intitulados maçons, na
Europa (de masson, no francês
arcaico, mason no inglês e makio, termo que os germânicos adotavam
para construtores), compunham uma respeitada e próspera Corporação de Ofício,
responsável pela criação de prédios monumentais e pela aplicação de uma avançada
engenharia ornamental.
Esses trabalhadores não estavam submetidos
à servidão medieval, que prendia o súdito ao senhor feudal. Assim, estavam
livres para circular e agir de uma região a outra. Suas técnicas e habilidades eram
guardadas em sigilo e transmitidas confidencialmente. Os interessados que
demonstrassem as muitas aptidões exigidas eram admitidos como aprendizes do
ofício.
O
ingresso do aprendiz na Corporação dos maçons compreendia procedimentos
ritualísticos, assimilados com os das celebrações exercidas pelas antigas sociedades
secretas, que ocultavam seus mistérios aos profanos. Os pedreiros livres de uma
Corporação de Ofício, a exemplo das outras, repartiam-se em três graus de
capacitação hierárquica, investidos por meio de rituais litúrgicos próprios:
aprendizes, companheiros e mestres.
Existem versões de que três cavaleiros templários,
refugiados na Escócia, teriam contratado com a Corporação de Ofício dos maçons
(arquitetos pedreiros) e com a Confraria dos Cavaleiros de Santo André a
fundação de uma Ordem Capitular, em 1340, organizada conforme os moldes do
regime usual na Maçonaria simbólica.
Consta que, provavelmente nas últimas
décadas do século XVI, havia associações de maçons aliadas a confrarias escocesas
que aceitavam a parceria com pessoas estranhas às regras da ação operativa. Os
obreiros maçons da Escócia, com o apoio e o patronato da dinastia Stuart, receberam
instruções e formalismos que impregnaram sua organização com inclinações para
novos rumos teóricos.
Existem registros sobre a admissão, na
confraria corporativa maçónica, em 1646, do alquimista Elias
Ashmole, estranho às
práticas dos obreiros construtores escoceses. O sistemático ingresso de membros
teóricos induziu à introdução de temas filosóficos nos salões dos maçons
práticos. Os membros teóricos
eram instruídos em artes e
ciências diversas, acrescentando outros assuntos aos temas dos construtores.
Desse processo nasceu o
filosofismo maçónico e a criação de novos graus, além dos três originais.
Os núcleos de ação maçónica tomaram a
designação de loja. A partir de 1691, além da palavra britânica
mason, usada para identificar o integrante de uma loja,
passou-se a empregar a expressão free and accepted mason (maçom livre
e aceito), que se referia ao membro não-operativo.
As inovações metodológicas se difundiram por toda a Grã-Bretanha, de tal
maneira que, em 24 de junho de 1717, dia de São João Batista, as quatro células
da capital inglesa decidiram fundar a Grande Loja de Londres. Com uma
administração colegiada, ela teve a incumbência de revisar e consolidar os princípios
básicos, de acordo com o regulamento das atividades maçónicas anteriores.
Em 1721, James Anderson, clérigo da Igreja
Anglicana, foi encarregado de redigir um manual com os "marcos" (land
marks), um compêndio que se prestasse para uniformizar o simbolismo
maçónico. O livro das Constituições de Anderson foi publicado em 1723, trazendo
uma série de dispositivos, extensivos a todas as lojas. Entre eles estão os
princípios da igualdade dos seres humanos, da liberdade de pensamento, da
amizade fraternal e do sigilo. O texto determina também que só podem ser
admitidos homens adultos, livres, de bons costumes e que acreditem na
existência de Deus - independentemente da religião que professam.
Desde aqueles tempos, surgiu uma
instituição formal e regular, disseminada em todos os continentes e em quase
todas as nações, com o nome de Maçonaria, também cognominada Franco Maçonaria. Como
consequência da multiplicação universal das lojas maçónicas (federadas em
Grandes Lojas ou em Grandes Orientes, termo criado na França) e, diante do
interesse pela conservação dos antigos princípios, catalogados em roteiro
regulamentar credenciado, fundou-se a Grande Loja da Inglaterra, em 1751, que
supervisiona a unidade mundial do funcionamento simbólico da Maçonaria.
Ziéde C.
Moreira é professor aposentado na Universidade
Federal Fluminense, mestre maçom
instalado, grau 33, membro da Academia
Maçónica de Ciências, Artes e Letras do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro e autor de O caminho do ofício místico. São Paulo: Madras Editora, 2004.
A Ordem e o Império
Trazida para
o Brasil oficialmente no primeiro ano do século XIX, a Maçonaria participou
ativamente do processo de independência do país.
Marco Morel
Marcado por luzes e trevas, surgimento das
maçonarias no Brasil ainda é pouco conhecido. Superdimensionadas por escritores
maçons ou banalizadas por pesquisadores que não têm acesso a documentos
consistentes, as maçonarias, entretanto, estavam entre as mais importantes
formas de associação do período da Independência e início da construção do
Estado nacional brasileiro e desafiam até hoje o conhecimento histórico.
Apesar das especulações em contrário, a
Loja Reunião, do Rio de Janeiro, é comprovadamente a primeira a ser criada e a
reunir-se regularmente no Brasil, em 1801. Tal testemunho veio de um dos mais
importantes líderes maçónicos, José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838),
conhecido como "Patriarca da Independência" e que atribuiu a fundação
desta "primeira Loja Simbólica Regular" no país, ligada ao Grand
Orient d'lle-de-France, à iniciativa de um misterioso "cavalheiro
Laurent", viajante no navio de guerra francês Hydre, que fazia a rota
para a ilha Bourbon. Antes disso pode ter havido agremiações secretas não
maçônicas. Ou, então, as que existiram foram tão clandestinas que não deixaram
maiores rastros, atiçando a chama da curiosidade de autores do século XX que, mesmo
sem documentação, procuraram "evidências", com destaque para a
Conjuração Mineira de 1789, muitas vezes apontada como obra de maçons, da mesma
forma que a Conjuração Baiana de 1798.
Existiram raras e nebulosas agremiações
maçónicas nos principais centros brasileiros no fim do período colonial, como
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, onde a derrotada República de 1817 tornou
evidente a presença deste tipo de entidade. Hipólito da Costa, que redigiu em
Londres o pioneiro Correio Braziliense entre 1808 e 1822, fazia propaganda
maçónica em seu jornal.
A referência às maçonarias no plural
parece ser a mais exata, pois não havia um centro possante, homogéneo e
unificado, mas uma concepção de organização que se espalhou por diversos
países. As maçonarias representaram desde meados do século XVIII , em diferentes casos de passagem de um
antigo a um novo regime, uma das mais expressivas formas de organização
política. Pode-se afirmar que tais associações tiveram desempenho significativo
nos primeiros esboços de modernidade política, seja no caso de independências
nacionais americanas ou na crise dos absolutismos europeus.
Haveria uma ideologia maçónica? Mantendo o
plural, é possível pensar em ideários maçónicos e não numa ideologia coerente,
com práticas diferenciadas e até contraditórias entre si. Seria cômodo escrever
que tais organizações apenas refletiam as ações e ideias de cada tempo e lugar.
Isto é correto, mas não basta, pois estas instituições, permeadas por valores e
interesses externos a elas, deram uma contribuição própria à vida política dos séculos
XVIII e XIX. E apesar das características locais havia uma espécie de fundo
comum teórico, prático e simbólico das lojas maçónicas, sem esquecer os laços internacionais
que chegaram a se estabelecer.

O ideário maçónico apresentava duas características centrais: a Razão e
a Perfeição, como formadoras das Luzes. Ou seja, a racionalidade
envolvida com a busca do progresso humano. E neste encontro entre segredo e esclarecimento
há um paradoxo bem característico: as Luzes só poderiam florescer à sombra.
Tal ideário fazia parte dos chamados princípios maçônicos, mas compunha a visão
de mundo de uma época, além de tais associações.
É prudente evitar a ligação simplista
entre maçonarias e revoluções, mesmo se os Grandes Orientes e suas lojas
desempenharam papel importante nas desagregações de antigos regimes, como na
Revolução
Francesa e em outros
países europeus. Os maçons nem sempre eram revolucionários - havia uma espécie de
gradualismo evolucionista nesta liberação da Humanidade. Se cada indivíduo
atingisse o degrau máximo e hierarquizado desta escala da perfeição, as
revoluções se tornariam desnecessárias. A conquista de um mundo novo, neste
sentido, tinha sua dimensão interior ou espiritualizada, e a liberação
da sociedade seria quase uma consequência das Luzes expandidas, sem
rupturas sociais.
No período da Independência brasileira as
atividades maçónicas cresceram ao lado de outros tipos de associações
filantrópicas, políticas, culturais ou de ajuda mútua. É conhecido o exemplo do
Grande Oriente Brasileiro de 1822, que se tornou importante foro de debate, mobilização
e contato entre forças políticas
que efetivaram a separação
do Brasil de Portugal - e tal escolha se explica também pelo caráter reservado.
No quadro ainda do absolutismo, embora abalado pelo movimento constitucional português
desde 1820, o espaço maçônico era adequado para realizar tal articulação que,
tornada pública, seria ilegal.
As reuniões do Grande Oriente se mostraram
decisivas neste momento. Emissários foram enviados às demais províncias para
articularem a adesão à Independência. E foi durante um desses encontros que
surgiu a ideia de se chamar de "Império" o país que seria independente
e de "imperador" seu primeiro governante.
Este primeiro Grande Oriente do Brasil se
tornou referência historiográfica obrigatória e mesmo formadora de memória
histórica, na medida em que outras maçonarias, posteriores, se apresentavam como
autênticas herdeiras desta matriz. A instituição, com sede na Rua do Conde
(atual Rua Visconde de Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro), foi
reconhecida pelos Grandes Orientes da França, Inglaterra e Estados Unidos e era
adepta do Rito Francês Moderno, um dos modelos de organização simbólica mais
difundidos na época.
Em seus primórdios, o Grande Oriente
brasileiro teve como membros mais influentes: Gonçalves Ledo
(que breve se exilaria em
Buenos Aires), José Bonifácio (o grão-mestre), todo-poderoso ministro, e o
próprio d. Pedro (ver box).
O Grande Oriente brasileiro aglutinava em
1822 três lojas cariocas: Comércio e Artes, Esperança de
Niterói e União e Tranquilidade.
Este primeiro avanço do movimento associativo moderno será logo reprimido pelo
novo Império, com a proibição, assinada pelo irmão Guatimozim (d. Pedro
I) em 21 de outubro de 1822, dos trabalhos maçónicos e das associações políticas
durante todo o Primeiro Reinado. A escalada repressiva culminaria, cerca de um
ano depois, com o fechamento da primeira Assembleia Constituinte brasileira, a
prisão e o exílio de deputados.
Apesar da repressão, sabe-se que algumas
dessas agremiações continuaram a existir na clandestinidade no Rio de Janeiro,
como a Loja Bouclier d'Honneur (Escudo da Honra) e o Apostolado, ambos
em 1823 e, dois anos depois, a Vigilância da Pátria, de tendências
liberais e oposicionistas, integrada por Nicolau de Campos Vergueiro (futuro
senador em 1828 e regente em 1831). Sem falar do jornal Despertador Constitucional
Extraordinário, redigido em 1825 pelo baiano Domingos Alves Branco Muniz Barreto,
conhecido dirigente maçom, em cujas páginas havia pregações maçónicas.
Mas será somente com a crise e o fim do
Primeiro Reinado e no período das Regências (1831-1840) que os trabalhos maçónicos
serão retomados de maneira regular, embora já sem a importância de 1822.
Nos anos 1830 assistiu-se a um crescimento considerável das maçonarias e, ao
mesmo tempo, a um verdadeiro "canibalismo" maçom, com a existência de
cinco Grandes Orientes somente no Rio de Janeiro, além de dissidências e
intrincadas brigas entre os grupos, revelando como era difícil a busca de fraternidade
e perfeição. Neste período surgiram os primeiros textos formalmente maçónicos
impressos e tornados públicos no Brasil.
Marco Morel é professor na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro e autor de As transformações dos espaços públicos:
imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820 - 1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
Questão de fé
Ideais de liberdade religiosa e ensino laico
puseram a Maçonaria em rota de colisão com a Igreja Católica, num conflito que,
no Brasil, culminou com a prisão de bispos em 1874.
Eliane Lúcia Colussi
A historiografia
brasileira dedicou pouco espaço aos estudos sobre a Maçonaria. Em 1939, Gustavo
Barroso (1888-1959) chamou a atenção sobre a importância da instituição maçônica
na sua História secreta do Brasil. Um dos principais expoentes do
pensamento conservador-católico, o autor afirmava que a história brasileira
poderia ser explicada através da teoria do complô judaico-cabalístico-maçônico.
A conspiração, que combinava elementos místicos e étnicos, agia subterraneamente
e seria a responsável por muitos dos desfechos da política brasileira.
Diversos
mitos presentes até hoje na Maçonaria no Brasil tiveram sua origem nas teses de
Barroso, entre os quais ela ser fonte de influência na política. Ao longo dos
séculos XVIII e XIX, a ordem fez pesada oposição ao absolutismo e à Igreja,
congregando a elite econômica e intelectual ascendente. Essa postura gerou uma
série de conflitos com o clero, que reagiu tentando restaurar e até mesmo
endurecer um catolicismo autoritário, quase medieval.
O
crescente desprestígio do catolicismo no século XIX motivou a Igreja a adotar
políticas que revigoraram o chamado ultramontanismo - movimento que pregava a
retomada da autoridade papal "além das montanhas" que separavam a
Itália do resto da Europa. O ultramontanismo foi uma reação a leis que, nos países
católicos, subordinavam a Igreja à autoridade do Estado, como acontecia no
Brasil. Do outro lado, o pensamento anticlerical reunia um amplo leque de pensadores,
incluindo liberais, maçons, nacionalistas, positivistas, anarquistas e
socialistas.
O
confronto entre clérigos e maçons recrudesceu quando repercutiram no Brasil os
ventos da política de romanização católica. Implementada pelo Papa Pio IX
(1848-1879), essa política pretendia, a partir da retomada de posicionamentos
conservadores, do prosseguimento de uma política de centralização da Igreja em
torno da figura do papa e da intransigência liberal, reverter o quadro negativo
enfrentado pelo catolicismo em escala mundial.
Um dos
espaços importantes na disputa entre os posicionamentos clericais e anticlericais
foi a política institucional. Os maçons transitavam com muita intimidade neste
terreno. Muitos pertenciam ao Partido
Conservador e outros tantos, ao Partido Liberal. A Maçonaria
não orientava seus integrantes a seguirem uma ou outra corrente política. A
liberdade de expressão tanto religiosa como política, constituía-se em ponto
fundamental a ser respeitado pelos maçons.
Tal postura
não significava, porém, que a Maçonaria evitasse exercer algum tipo de
influência no cenário político. No período em que se radicalizou a luta entre a
ordem e a Igreja Católica, houve diversas iniciativas que revelaram a
necessidade de uma atuação mais intensa dos maçons na política. Tratava-se de
defender a liberdade de imprensa e discutir temas que envolviam a relação de
Igreja e Estado, como o ensino religioso na rede pública, subsídios para a
vinda de padres estrangeiros para o Brasil e a destinação de recursos para a
construção e reforma de igrejas.
As irmandades religiosas
foram outro espaço de disputas entre Maçonaria e Igreja Católica, especialmente
a partir de 1872, quando aconteceu a chamada Questão Religiosa. Até então, era
pública a presença de muitos integrantes do clero nas lojas maçônicas e de maçons
nas irmandades religiosas - a maioria dos integrantes da Maçonaria no Brasil
era formada por católicos. Apesar da aparente contradição, esse fato estava em
sintonia com a situação mundial da ordem: a religião predominante num país
tende a ser a mais comum dentro das lojas locais.
A Igreja Católica no Brasil, porém, mobilizou-se
contra essa situação e passou a contra-atacar, publicando bulas e cartas
pastorais condenando a Maçonaria e as sociedades secretas. Os documentos de
condenação previam várias penalidades aos anticlericais, incluindo a expulsão
de padres maçons que não abjurassem a ordem e a suspensão dos trabalhos das
irmandades e confrarias que estivessem sob suspeita de influência maçônica.

No
início da década de 1870 o pensamento ultramontano já dominava o clero
brasileiro. Havia um conflito de consciência entre a lealdade às diretrizes da
Santa Sé e às leis do Império. A Constituição de 1824 determinava que a publicação
e aplicação no Brasil de decretos, bulas e cartas papais dependiam do
beneplácito (consentimento) do imperador. Em 1872, os bispos de Olinda, d.
Vital Maria Gonçalves de Oliveira, e de Belém, d. Antônio de Macedo Costa,
resolveram cumprir as ordens de Roma. Desobedecendo ao beneplácito, suspenderam
as irmandades religiosas que haviam se recusado a expulsar os maçons de seus
quadros.
Em
muitas cidades do Brasil ocorreu uma verdadeira caça às bruxas no interior das
irmandades. Houve até mesmo a interdição dos templos de irmandades que não quiseram
excluir das suas fileiras os membros maçons. Em 16 de janeiro de 1873, d. Vital
lançou o interdito, como penalidade pela desobediência de expulsar os maçons de
seus quadros, à Irmandade do Santíssimo Sacramento. No Pará, d. Macedo Costa
editou uma pastoral em 25 de março de 1873 proibindo a presença de maçons nas
irmandades. Foram punidas as Irmandades da Ordem Terceira de Nossa Senhora do
Monte do Carmo, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos e da Ordem Terceira
de São Francisco.
As
irmandades recorreram ao imperador que ordenou aos bispos que cancelassem a
suspensão. Como eles se recusaram a obedecer, foram presos e condenados
"no grau médio do Artigo 96 do Código Criminal que previa quatro anos de
prisão com trabalhos". Anistiados em 1875, os prelados mantiveram suas
decisões contra as irmandades, o que contribuiu para que as relações entre
Igreja e Império ficassem cada vez mais estremecidas. Por trás da presença ou
não de maçons nas irmandades religiosas grande tema da Questão Religiosa foi a
subordinação da Igreja Católica ao Estado brasileiro.
Além da
liberdade política e religiosa, a educação popular foi sempre um tema muito
caro à Maçonaria, com ideias comuns à dos liberais no século XIX. Eles
acreditavam que a sociedade moderna, necessariamente laica e secular,
originária da revolução intelectual dos finais do século XVIII, deveria
assentar-se no conhecimento científico e racional, eliminando os vestígios
medievais da influência católica.
As divergências entre as duas instituições adquiriram
contornos de uma disputa político-institucional na educação. A ideia que se
tinha era a de que por meio da educação das crianças e dos jovens se
construiria o "futuro". Mas qual seria esse futuro? Para a maçonaria,
ele estava intimamente ligado ao racionalismo/cientificismo, a modernidade e ao
progresso. Para tanto era fundamental retirar das escolas públicas a
obrigatoriedade do ensino religioso. Uma das vitórias nessa luta foi um decreto
de 1874, que dispensava das aulas de religião os alunos não católicos. O fim do
ensino religioso obrigatório só viria com a Constituição republicana de 1891. A
Igreja Católica lutou bravamente contra a adoção do sistema educacional laico
no Brasil. Seu discurso alertava os católicos contra “o falso brilho das
doutrinas da época".
É possível
compreender o complexo quadro político e cultural brasileiro do século XIX
também a partir da luta dessas duas instituições. O campo das ideias e das disputas
em torno delas foi muito mais amplo do que os posicionamentos anticlericais e
clericais abordados aqui. Num quadro em que a vida social se desenvolvia em
poucos espaços públicos, a Maçonaria tornou-se efetivamente um lugar onde
ocorria a sociabilidade da maior parte da elite. A Igreja Católica precisou empenhar-se
muito para recuperar os espaços perdidos ou, talvez, até então não
consolidados.
Eliane Lúcia Colussi é professora de História
na Universidade de Passo Fundo (RS) e autora de A maçonaria gaúcha no século
XIX. 3. ed. Passo Fundo: Ediupf, 2003.
O simbolismo maçônico
Alguns significados dos principais símbolos
usados pelos maçons em seus rituais:
Acácia -
Acácia mimosa, a planta símbolo por excelência da Maçonaria encontrada
largamente em cemitérios: representa a segurança, a clareza, e também a
inocência ou pureza de espírito de todo maçom.
Avental - Símbolo do trabalho maçônico: branco, e de pele,
para os aprendizes (com a abeta erguida) e companheiros (com a abeta baixada);
branco orlado de vermelho ou azul (dependendo do rito), e com diversos símbolos
maçônicos para os mestres.
Colunas - Símbolos dos limites do mundo criado, da
vida e da morte, do elemento masculino e do elemento feminino, do ativo e do passivo,
do mundo material e do espiritual.
Compasso - Símbolo do espírito, do pensamento nas diversas
formas de raciocínio, e também do relativo (círculo) dependente do ponto
inicial (absoluto). Os círculos traçados com o compasso representam as próprias
lojas maçônicas ou o Universo maçônico.
Delta luminoso com o olho que tudo vê –
Triângulo luminoso com um olho no centro, símbolo da força expandindo-se;
também representa o próprio Grande Arquiteto do Universo e sua onisciência.
Esquadro - Resultante da união da linha vertical com a
linha horizontal, é o símbolo da retidão e também da ação do homem sobre a matéria
e sobre si mesmo.
Malhete - Pequeno martelo, emblema da vontade ativa, do
trabalho e da força material; instrumento de direção, poder e autoridade.
Pavimento em mosaico - Chão em xadrez de quadrados
pretos e brancos, com que devem ser revestidos os templos; símbolo da
diversidade do globo e das raças, unidas pela Maçonaria; símbolo também da dualidade
entre os mais diversos temas, como bem e mal, espírito e corpo, luz e trevas.
Pedra bruta - Símbolo das imperfeições do espírito que o
maçom deve procurar corrigir; e também da liberdade total do aprendiz e do
maçom em geral. Simboliza o caminho inicial na preparação do maçom.
Templo - Símbolo da construção maçônica por excelência,
da paz profunda para que tendem todos os maçons. Local de trabalho e das
ritualísticas.
Três pontos - Símbolo com várias interpretações, aliás
conciliáveis: fé, esperança e caridade; liberdade, igualdade e fraternidade;
luz, trevas e tempo; passado, presente e futuro; sabedoria, força e beleza;
nascimento, vida e morte. O triângulo formado por esses três pontos representa
também a primeira forma geométrica perfeita, dotada de tamanho e área num
espaço.
Consultoria: Fabiano Jacobi, mestre maçom
Adonhiramita do GOB GOERj, Loja Scripta et veritas, n1641
Fonte: Revista Nossa
História / Ano 02 - nº 20 - Junho-2005
Saiba Mais - Filmes:
Mauá - O Imperador e o Rei
Com direção de Sérgio Rezende, o filme retrata a biografia de Irineu
Evangelista de Souza, personalidade da história brasileira que se destacou como
empresário no Segundo Império do país. Irineu construiu a primeira indústria
brasileira, uma fundição e estaleiro em Ponta de Areia, Niterói (RJ).
Gaúcho, Mauá nasceu na cidade de Arroio Grande e o
início de sua vida não indicava um destino tão brilhante. Ainda garoto, Irineu
se tornou órfão, quando seu pai foi morto por ladrões de gado. Dois anos
depois, sua mãe decidiu se casar novamente com João Jesus, que mandou o enteado
para o Rio de Janeiro com Batista, seu tio.
No Rio, Irineu vai trabalhar no armazém do
português Pereira de Almeida, onde descobre sua aptidão para os negócios.
Torna-se funcionário de confiança e um cobrador impiedoso. Seu talento é
reconhecido pelo escocês Richard Carruthers, que o emprega em sua firma de
exportação e lhe dá as primeiras noções das teorias econômicas. No entanto,
Carruthers decide voltar a sua terra natal e deixa Irineu no comando. Em uma
viagem a Liverpool, Mauá se encanta com a potência das fábricas e decide
arriscar tudo para construir uma indústria no Brasil.
Direção: Sérgio Resende
Ano: 1999
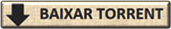 Áudio: Inglês/legendado
Áudio: Inglês/legendado
Duração: 134 minutos
.png)