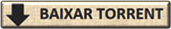Filme retrata produção de famoso livro da filósofa alemã em sua busca por
responder qual é o caráter principal do Homem.
O que torna um homem, Homem? Seriam os aspectos biológicos, uma junção
de células que criam carnes, ossos, tendões, tecidos dos mais variados? Ou
haveria algo além da mera questão evolutiva? Um caráter de humanidade, que
diferencia o homem dos demais animais? Uma das mais importantes discussões que
perpassa toda a história da filosofia, esta questão é o tema principal do filme
“Hannah Arendt”, da diretora alemã Margarethe Von Trotta.
O longa-metragem, que, em certos momentos
peca por um certo exagero dos atores, o que tira a naturalidade das cenas, não
é exatamente uma cinebiografia da filósofa alemã de origem judia que migrou
para os EUA para fugir da Segunda Guerra Mundial. Foca em um determinado
episódio na história da autora de As origens do totalitarismo que
ilumina, provavelmente, a principal discussão da sua vida: qual é A
condição humana [não por acaso, nome de outro de seus clássicos]?
Trata-se de uma tentativa desafiadora de
reconstituição dos caminhos percorridos pelo pensamento da filósofa na
construção do que ela chamou de “banalidade do mal”. Desafiadora, porque
instalada no campo do pensamento, do “indizível”. Daquilo que exigirá do
expectador não apenas a compreensão racional de um diálogo despreocupado com a
incompreensão do grande público, mas uma “epistemologia do tato”, como dizem
alguns estudiosos do período renascentista. O olhar cuidadoso para a
singularidade do humano em um fenômeno histórico que se tornaria paradigma
universal da maldade.
Já morando em Nova York e com a sua vida
completamente estabelecida, entre aulas na universidade, amigos e um marido a
quem ela demonstra muito carinho, Hannah Arendt recebe a informação de que
o famoso nazista Adolf Eichmann tinha sido preso pelo serviço secreto
israelense em Buenos Aires e seria levado para julgamento em Israel. Ela, mesmo
que não tivesse qualquer ligação direta com o caso, envia uma sugestão para a
conceituada revista “The New Yorker” se oferecendo para cobrir, por eles, o
processo.
Já na “terra sagrada”, ela assiste à dura
rotina de depoimentos de testemunhas, de vítimas que passam mal em júri, e do
próprio Eichmann. Em vez de admitir qualquer culpa no extermínio de milhares de
homens e mulheres, o alemão se declara um mero cumpridor de ordens, um homem
que simplesmente obedecia ao Führer. Mesmo que para isso tivesse que matar o
próprio pai, naquele momento, ele era um soldado sem direito a retrucar as
ordens enviadas. Hitler era a lei.
Para o julgamento, a diretora optou pelas
imagens de época, absolutamente impactantes. Toda a vasta historiografia sobre
o nazismo se vê confrontada com a espontaneidade do sujeito gripado, enjaulado
diante do júri a dizer que sua função era fazer os vagões que traziam os judeus
apenas seguirem seu curso. Através dos olhos fixos de Arendt não se vê a
História do nazismo em julgamento, a tragédia humana do assassinato dos seis
milhões de judeus em discussão, mas um homem, um burocrata, expropriado de sua
capacidade de pensar.
Hannah Arendt fica impressionada, com o argumento e com o aspecto do
réu. Ele parece tão normal, tão comum, tão banal, tão humano... E se ele não é
o autor da ordem, seria ele o responsável pelas mortes dos judeus nos campos de
concentração? Se ele é apenas o instrumento da ação de um Estado totalitário,
ele seria igualmente culpado pelos crimes?
“As perguntas precisam ser feitas”, ela
diz. Hannah Arendt passa a maior parte do tempo buscando a origem do incômodo
que aquele sujeito provoca nela. A ausência de soberania do homem e não o
julgamento da ilegalidade do Estado que ele poderia, naquele momento,
representar. Na contramão da cultura ocidental que criou os conceitos de
universalidade, identidade e homogeneidade, ao ponto de permitir a formação do
totalitarismo, Arendt nos leva ao estranhamento do óbvio, do mais simples
cálculo histórico que gerou a dicotomia demonização/vitimização como
explicativa das catástrofes do século XX.
A resposta para todas as questões
apresentadas até o momento neste texto é a mesma, e é insinuada logo no início
do filme.
No início de sua vida intelectual, ainda
bem antes da Segunda Guerra, Arendt decide ir estudar com um dos maiores
filósofos do século XX, o igualmente alemão Martin Heidegger. Mesmo que anos
depois Heidegger tenha colaborado com o regime nazista, os dois se aproximam e
tem um caso de amor. Apesar das diferenças no campo político, os dois mantém
uma relação bastante próxima durante toda a vida, “depois de 46 anos, como
desde sempre”, ela diria em uma das inúmeras cartas trocadas entre ambos.
Na cena em que a jovem
Hannah se encontra com o já renomado professor, ele lhe pergunta: Então você
quer aprender a pensar? Com a confirmação de Hannah, ele responde: O pensamento
é algo solitário, e não é apenas racional, mas envolve as mais variadas
emoções.
A filósofa, já de volta a Nova York, se
instala sobre o divã, fumando. Fica pensando o caso. Pensando o que tinha visto
no julgamento, pensando as conversas que tinha tido com o seu mentor: “a morada
do pensamento é um lugar de silêncio”.
Em fins de 1969, ela chega a escrever
sobre a importância da recordação para a história do pensamento. É o
“aproximar-se da distância” que garante, segundo a filósofa, a possibilidade do
pensar como uma aptidão mental.
Hoje, talvez, a “distância” de Arendt em
relação aos fatos possa ser considerada um tanto precoce. Foram apenas 15 anos
após o fim da Segunda Guerra Mundial até que ela pudesse afirmar, entre outras
coisas, que a estratégia nazista consistiu em despersonalizar a sociedade e
desumanizar suas vitimas ao ponto de criar uma zona ambígua entre a colaboração
e a resistência, dentro e fora dos campos de concentração. Exemplos de como
esse processo acontecia em todos os lugares, e não apenas nos campos, são os
casos da maior parte dos países latino-americanos que criaram legislação para
impedir a entrada de refugiados judeus. Ou a França de Vichy, que discute incansavelmente
e sofre até hoje com suas dores de consciência.

Com essa pequena “distância” de tempo, mas já tendo estourado o seu
prazo, e demonstrando arrogância com as pessoas de fora do seu círculo de
amizade, uma atitude quase exótica àquela personagem dócil de dentro de casa,
Arendt entrega o texto final. Logo depois, esta obra seria transformada no
livro "Eichmann em Jerusalém" e causaria a provável maior
controvérsia na sua vida.
Fazendo uma reportagem filosófica, digamos
assim, Hannah Arendt não apenas desenvolve teses sobre o que viu ou pensou, mas
também descreve o cotidiano do julgamento. Em uma de suas descrições, ela fala
que houve uma espécie de conivência entre as lideranças judias e os comandos
nazistas. Conivência essa que talvez tenha sido vista como uma forma de
sobrevivência num primeiro momento, mas que, para ela, causou mais mortes no
fim das contas.
Essa passagem, que não era nem próximo do
ponto principal a que ela se agarrava, lhe causou uma inundação de cartas e
ameaças. Judia, ela era acusada de trair o movimento sionista. Mesmo que ela
dizia que sua pátria não era a Alemanha, Israel ou os EUA, mas os seus amigos.
“Nunca me senti como uma mulher alemã e já deixei há muito de me sentir como
uma mulher judia”, afirmava desde os anos de 1950.
Ao que parece, o pensamento construído por
Arendt não resulta de um conflito de consciência, ou de um dever moral, mas de
uma questão existencial. O que a filósofa queria deixar claro era que, para
ela, Eichmann, assim como todos os homens e mulheres afetados diretamente ou
indiretamente pelo nazismo, tinham perdido o dom mais precioso de suas vidas: a
humanidade. Pensar não é uma atitude contemplativa, “é um ofício austero, longo
e rigoroso”, é o que torna o ser Humano. E o totalitarismo
tinha retirado a capacidade dos homens e mulheres de pensar, do jeito que
Heidegger sugeriu. Essa é uma das características principais do totalitarismo.
Fossem nazistas ou judeus, alemães ou
poloneses, os homens e as mulheres se transformaram em seres sem vida, que ou
repetiam ordens sem refletirem sobre, ou lutavam única e exclusivamente por sua
sobrevivência. Para Arendt, o homem não sobrevive, o homem vive. Daí, de uma
maneira geral, o totalitarismo nazista teria atingido a todos, sem determinações
geográficas.
O filme sugere que o que torna um homem,
Homem é o ato de pensar, não no sentido de repetir automaticamente as decisões
racionais, mas se envolver com as questões de maneira mais profunda, mais
emotivamente, em suma, de maneira mais humana.
Em uma carta de Hannah Arendt para Martin
Heidegger datada de setembro de 1969, ela parece confirmar esse raciocínio:
“Estamos tão habituados à antiga
contraposição entre razão e paixão, espírito e vida, que nos espantamos em
certa medida com a representação de um pensamento apaixonado, no qual pensar e
viver se unificam. Este pensamento que se alça enquanto paixão a partir do
simples fato de ter-nascido-em-um-mundo e então ‘procura seguir com o
pensamento o sentido que vige em tudo o que é’ comporta tão pouco uma meta
derradeira - o conhecimento ou o saber – quanto a própria vida.”
E completa em seguida:
“O fim da vida é a morte, mas o homem não
vive por causa da morte. Ele vive porque é uma essência vital; e ele não pensa
por causa de um resultado qualquer, mas porque é uma essência ‘pensante, isto
é, meditativa’”.
Ao fim, à janela, e fumando e pensando,
como sempre, o ciclo do pensamento se fecha com o que parece ser mais próprio
da filosofia partilhada por Hannah Arendt e Martin Heidegger. “De todas as
críticas que recebi, ninguém foi capaz de me fazer aquela única que eu
respeitaria. O mal não pode ser banal e radical ao mesmo tempo”. Esta é a
“qualidade cáustica” do pensamento: “ele deve se comportar em relação aos seus
próprios resultados de maneira caracteristicamente destrutiva ou crítica”.
Direção: Margarethe Von
Trotta
Ano: 2013
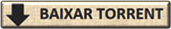 Áudio: Inglês/Alemão/Legendado
Áudio: Inglês/Alemão/Legendado
Duração: 113 minutos
Saiba Mais - Links
Filosofia em tempos sombrios
Para compreender a terrível novidade política do século XX – o
totalitarismo e o Holocausto – a filósofa Hannah Arendt elaborou conceitos
inéditos
Quando as teorias conhecidas se tornam
incapazes de dar conta dos horrores da realidade, é preciso imaginar novas
formas de pensar. Hannah Arendt foi uma das poucas personalidades da história
intelectual do século XX a se propor esta tarefa. No seu caso, isto se deu de
forma articulada com sua trajetória pessoal, já que ela, judia, acompanhou de
perto o que se passou na Alemanha de Hitler.
Hannah Arendt nasceu em
1906, em uma família judaica, de Koenisgberg, na Alemanha oriental. Teve uma
educação laica e muito cedo se interessou por filosofia, teologia e literatura.
Aos 18 anos entrou para a universidade em Marburgo, onde conheceu um jovem
professor, Martin Heidegger (1889-1976), com quem teve um relacionamento e de
quem ficaria próxima até sua morte, com alguns longos intervalos, inclusive por
causa da colaboração do filósofo com o regime nazista. A influência de
Heidegger sobre seu pensamento é enorme. Na época, ele preparava Ser e
tempo, que viria a ser o seu livro mais importante, publicado em 1927.
Pode-se imaginar que Hannah Arendt tenha sido uma leitora atenta do texto em
elaboração.
Ela estava em Berlim
quando os nazistas tomaram o poder, em 1933. Foi presa e conseguiu escapar para
Paris, onde viveu até 1940. Com a invasão da França, foi recolhida em um campo
de refugiados. De novo escapou, chegando finalmente a Nova York em março de
1941.
Foi nos Estados Unidos, em
1943, que tomou conhecimento da existência dos campos de concentração na
Europa. A descoberta foi decisiva para a elaboração de toda a sua obra, como
ela afirmou em uma entrevista de 1964. Explicou a certa altura: “Foi na verdade
como se um abismo se abrisse diante de nós... Auschwitz não poderia ter
acontecido. Lá se produziu alguma coisa que nunca chegamos a assimilar”. A
filósofa constatou que não dispunha de recursos conceituais para explicar a
terrível novidade. Todas as noções herdadas da tradição se mostravam
inadequadas para descrevê-la. Nos anos seguintes, Hannah Arendt concentrou
esforços na preparação de uma interpretação da experiência política central do
século XX: o totalitarismo.
Seu livro Origens
do totalitarismo, lançado em 1951, logo chamou a atenção. Nele, mostrava
que os regimes totalitários eram os únicos a explorar politicamente a situação
de solidão do homem de massas surgido nas sociedades industriais. O
totalitarismo é mais radical que qualquer forma de tirania ou de ditadura.
Estas dependem do isolamento político dos homens, mas mantém intactas tanto a
esfera privada quanto as atividades intelectuais. O nazismo e o comunismo – as
duas experiências a que Hannah Arendt aplica o conceito de totalitarismo –
devassaram a vida privada e reduziram toda a produção intelectual às
ideologias, explicações fechadas do mundo. Com sua lógica implacável, as
ideologias têm a função de justificar o terror nos regimes totalitários.
A interpretação de Hannah
Arendt contrariava uma visão corrente que definia o totalitarismo como forma
exacerbada de autoritarismo. A filósofa, muito ao contrário, entendeu que o
totalitarismo surge da quebra da autoridade política. Os regimes totalitários são
a expressão da crise da política, acentuada no final do século XIX com as
várias formas de imperialismo.
Nos anos seguintes, Hannah
Arendt ampliou seu diagnóstico dos impasses vividos no mundo moderno. Ela
afirmou que nossa civilização se funda em um tripé formado pela religião, pela
tradição intelectual e pela autoridade política. Desde o século XVI, em
momentos diferentes, cada uma destas bases ruiu. A Reforma Protestante provocou
o abalo da religião, as descobertas científicas do século XVII puseram por
terra a maneira tradicional de pensar e, por último, o surgimento dos regimes
totalitários desvendou a dimensão política da crise da modernidade.
O principal livro em que
Hannah Arendt tratou da crise do século XX foi Entre o passado e o
futuro (1961), no qual reuniu ensaios sobre temas tão diversos como
história, autoridade, tradição, liberdade, cultura e educação. Para a autora,
esses textos eram exercícios de pensamento e, por isso, apresentavam mais
indagações do que respostas. O cenário do mundo contemporâneo, que surge nestes
ensaios, é o de um tempo sombrio, a exigir uma severa reconsideração da
história.
Hannah Arendt alinhava-se
assim a autores como Friedrich Nietzsche (1844-1900) e Walter Benjamin
(1892-1942), de quem fora amiga. Como eles, avaliou com rigor os impasses da
contemporaneidade e expôs sua perplexidade. Ao mesmo tempo, os três não foram
filósofos negativistas. Entenderam que a experiência de crise tem também uma
dimensão liberadora, e se indagaram: quem sabe, depois do colapso da tradição,
poderemos ver com os olhos livres e ter acesso a novas formas de agir e de
pensar?
Há nos escritos de Hannah
Arendt esta dupla preocupação: propor um diagnóstico de sua época e abrir
caminho para definições inovadoras da política e da própria atividade do
pensamento. Publicado em 1958, o livro A condição humana é
considerado sua maior contribuição para a teoria política. Além de ter um viés
histórico, presente sobretudo no último capítulo, “A Vita Activa e
a Era Moderna”, que aponta o fenômeno da alienação como principal
característica da modernidade, seu objetivo central é elaborar uma teoria da
ação, a atividade humana que constitui a matéria-prima da vida política.
A vita activa,
como ela chamou, abriga todas as atividades do homem no seu contato com o
mundo. Elas são três: o labor, isto é, o processo biológico responsável pela
manutenção da vida; o trabalho, que cria um ambiente estável e duradouro para
os homens; e a ação, que se dá quando os homens estabelecem relações entre si.
É na vida política que os homens experimentam sua capacidade de agir. Hannah
Arendt destacou dois aspectos centrais da ação para a conceituação da
experiência política: a imprevisibilidade e a irreversibilidade. Nunca somos
senhores dos processos que desencadeamos com nossas iniciativas e,
diferentemente do que ocorre no contato com a natureza, não podemos desfazer as
ações que começamos. Os únicos recursos para lidar com isto são a nossa
capacidade de prometer e conseguir alguma estabilidade e de perdoar e
estabelecer um novo começo.
Hannah Arendt dedicou-se
também a examinar a história das revoluções modernas, a francesa e a americana,
em Sobre a Revolução (1963). O livro antecipa em muitos pontos
a revisão do significado da Revolução Francesa, que seria feita nas décadas
seguintes e abalaria o tom exclusivamente entusiástico da história oficial.
Esta continua sendo uma das obras mais brilhantes sobre história moderna,
apesar do tom desencantado dos últimos capítulos.
Renomada nos Estados
Unidos desde a publicação de Origens do totalitarismo, Hannah
Arendt era muitas vezes chamada a debater temas daqueles tempos – o conflito
racial, a corrida espacial, o movimento estudantil, a política do Pentágono, a
tensão na Palestina, a situação alemã do pós-guerra, o Estado de Israel. Sua
correspondência com o mestre e amigo Karl Jaspers é um precioso depoimento
sobre o mundo no segundo pós-guerra.
Em 1960, foi incumbida de
uma missão inédita e histórica: como correspondente da revista The New
Yorker, viajou para Jerusalém para assistir ao julgamento do nazista Adolf
Eichmann. Sua série de reportagens foi reunida, três anos depois, no
livro Eichmann em Jerusalém, que trazia o subtítulo Um
relato sobre a banalidade do mal. A publicação provocou uma longa e tensa
polêmica envolvendo basicamente o significado do subtítulo do livro. A autora
foi acusada de considerar banais os crimes de Eichmann, quando na verdade o que
fazia era chamar a atenção para a futilidade de suas motivações. Abatida com as
reações negativas ao livro, inclusive as de amigos próximos, ela também
sofreria naqueles anos a perda do marido, Heinrich Blücher, e de Karl Jaspers,
seu orientador de doutorado e interlocutor de longa data.
Nos últimos anos de vida,
Hannah Arendt retornou à filosofia. Deu início à obra A vida do espírito,
em que se ocuparia do pensar, do querer e do julgar. Toda atividade do
espírito, especialmente o pensamento, depende da interrupção do contato
imediato com o mundo. Esta postura desinteressada é fundamental para serem
postos em questão os preconceitos e os hábitos mentais estabelecidos. Por isso
mesmo, ela argumentava que Eichmann praticara seus crimes porque fora
totalmente incapaz de tomar distância e criticar as ordens que recebia. A
vida do espírito descreve um movimento em dupla direção: de um lado, o
pensamento promove o afastamento do mundo, do outro, o juízo assegura uma
aproximação. Hannah Arendt dedicava-se à última parte, sobre o juízo, quando
morreu, em 1975, em Nova York.
No prefácio do belo
livro Homens em tempos sombrios, em que retrata algumas figuras
centrais do século XX, Hannah Arendt afirma que essas personalidades são como
pequenas luzes a servir de orientação em épocas de sofrimento e perplexidade.
Trata-se de uma definição perfeita para ela mesma. Em nossa própria época, sua
figura é iluminadora.
Eduardo Jardim é autor
de A duas vozes: Hannah Arendt e Octavio Paz (Civilização
Brasileira, 2007) e Hannah Arendt: pensadora da crise e de um novo
início (Civilização Brasileira, 2011).
SAIBA MAIS - Bibliografia
ARENDT,
Hannah. Homens em tempos sombrios. São Paulo: Companhia das Letras,
1987.
LEVI,
Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
SOLJENÍTSIN,
Alexandre, Arquipélago Gulag. São Paulo e Rio de Janeiro: Difel,
1976.