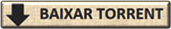Thais Nívia
de Lima e Fonseca
Ainda hoje o martírio de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, toca
os corações dos brasileiros, o que mostra a força simbólica desse personagem.
Pouco lembrado na maior parte do período monárquico - afinal ele cometera o crime
de inconfidência, isto é, de infidelidade a sua majestade, a rainha d. Maria I
-, a figura de Tiradentes começou a ser resgatada com mais força já na campanha
republicana, até que, em 1890, um decreto do novo regime institucionalizou este
herói nacional.
A escola também foi um dos principais
meios de difusão do mito, sobretudo nas décadas de 1930 a 1950, na chamada Era
Vargas, quando as comemorações cívicas se difundiram no Brasil. No dia 21 de
abril, data do enforcamento de Tiradentes, sessões cívico-literárias, iniciadas
com a execução de hinos e o hasteamento da bandeira nacional, incluíam discursos,
declamações de poesias, leituras de composições redigidas pelos alunos,
encenações, exposição de desenhos e outras atividades que marcaram
profundamente a formação de várias gerações de brasileiros.
As reformas educacionais de 1931 e de 1942
atribuíram ao ensino de história o papel de valorizar o passado nacional,
enfatizando os grandes feitos e os heróis da nacionalidade. Os livros didáticos,
além de reforçar o tom épico da conspiração mineira, destacavam o civismo de
personagens como Tiradentes, que passavam a encarnar a ideia de sacrifício pela
pátria. No Estado Novo (1937-1945), em especial, período em que Getúlio Vargas governou
com poderes ditatoriais, programas de rádio, cartazes, filmes e palestras nas
escolas, promovidos pelo Departamento de Educação Extraescolar, procuravam
ligar não só o passado e o presente, mas também Tiradentes e Getúlio Vargas,
como se eles fizessem parte de uma mesma tradição política.
Se na Monarquia, Tiradentes, quando
lembrado, era apresentado como um homem sem habilidades e realização
profissional, no início da República ele passou a ser descrito como personagem
de múltiplos talentos, entre os quais o talento político e revolucionário. Já
no Estado Novo, tornava-se exemplo do brasileiro laborioso e dotado de inúmeras
qualidades: "Entre os mais afeiçoados à ideia libertadora, figurava um
alferes de cavalaria, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Era um homem
pobre, de coração generoso, inteligência v iva, amante do progresso, um
autodidata, cheio de ardor e capaz de grandes empreitadas. (...) Era o tipo
representativo do brasileiro do século XVIII, cujas virtudes e qualidades os
pósteros herdaram (...)", escreveu Artur G. Vianna no livro para a 3ª série
ginasial História do Brasil de 1944.
O "tipo representativo do brasileiro do
século XVIII" deixara de herança o espírito empreendedor, inventivo,
honrado, dedicado à coletividade, útil, portanto, à nova cidadania. O autor
também estabelecia uma ponte entre o "brasileiro do século XVIII" e o
do século XX, que poderia ser muito bem identificado com o próprio Getúlio
Vargas. Na mesma época, os textos escritos pelos alunos das escolas primária e
secundária para concursos promovidos pelos jornais, também revelam a influência
que a imagem que então se construía de Tiradentes exercia sobre as crianças,
não havendo dúvidas, por exemplo, sobre o heroísmo e a "liderança" do
alferes.
Os próprios jornais já influenciavam os
trabalhos das crianças. "Tio Mário", responsável pelo caderno infantil
do Estado de Minas, no concurso de 1949, recomendava, por
exemplo, o uso do termo rebelião, em vez de inconfidência, para dar maior valor
patriótico. No concurso de 1954, o caderno infantil do Diário de Minas
orientava as crianças a "ressaltar os vultos principais desse movimento
que foi o marco para outros movimentos que vieram depois, como a Abolição e a
República".
de Minas, em 1949, sete fizeram menção direta ou indireta ao
enforcamento, dos quais três representaram a execução, inspirando-se na pintura
o Martírio de Tiradentes, de Aurélio de Figueiredo.
Já o esquartejamento, embora sempre
narrado nos livros didáticos e lembrado nas composições, não figurava na
maioria dos desenhos, o que se deve, talvez, à pouca difusão da tela que
representou este momento, Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo.
Todo esse aparato criado pelo Estado
difundia uma noção da história como obra apenas de espíritos elevados e
heroicos. Uma história sacralizada, destinada a ser mais celebrada do que compreendida.
Apesar das mudanças no ensino da história nos últimos anos, muitas dessas
ideias ainda continuam a ser repetidas. Em abril de 2001, as escolas públicas mineiras
receberam do governo do estado um livrinho intitulado Joaquim José: a
história de Tiradentes para crianças, em que Tiradentes é
heroificado. Em 2002, a telenovela Coração de Estudante, da Rede Globo,
mostrava, num de seus capítulos, professoras e alunos de uma
escola preparando as comemorações do Dia de Tiradentes. A
surpresa foi ver, na telinha, os mesmos preparativos adotados na
primeira metade do século XX: é espantosa a vitalidade desse herói na memória nacional!
Thais Nívia
de Lima e Fonseca é professora de História da Educação e pesquisadora do
Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais.
A outra face do alferes
Documento raro revela um Tiradentes demasiado humano.
Apesar de Tiradentes ter sido um dos personagens mais estudados de nossa
História, muito pouco se conhece de sua vida anterior ao movimento mineiro de
1789. Sobretudo no que se refere à sua intimidade, as informações são escassas,
e não faltam controvérsias sobre seu patrimônio, sua formação intelectual, seus
descendentes etc... Há, no entanto, um documento pouco conhecido do público em
geral – e mesmo entre os historiadores – que traz uma faceta no mínimo curiosa
do inconfidente mineiro. Trata-se do processo de Antônia Maria do Espírito
Santo, que se encontra no Arquivo Público Mineiro – documentação descoberta
pelo historiador Tarquínio José Barboza de Oliveira, principal organizador dos
Autos da Devassa (o processo iniciado contra os suspeitos em 1789). Com a
preciosa colaboração das pesquisadoras e paleógrafas Maria José Ferro e Maria
Teresa –, que transcreveram o processo de forma criteriosa segundo a fonte
original, a Revista de História põe em discussão esse documento, para que, ao
trazer à luz outras facetas do mitológico mártir da Inconfidência, talvez
possamos nos aproximar um pouco mais da figura de Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes.
Entre novembro de 1789 e meados de 1790,
houve em Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto um processo
envolvendo Tiradentes. Nele, Antônia Maria do Espírito Santo, amásia do
inconfidente, reivindica junto às autoridades locais a posse da escrava Maria,
de “Nação Angola” – junto com seus dois filhos pequenos, Gerônimo e Francisca –
que fora “sequestrada” com os demais bens de Tiradentes na ocasião de sua
prisão. Para tanto, Antônia Maria alega que a escrava lhe havia sido doada pelo
alferes, não pertencendo mais a Tiradentes, e que, portanto, lhe deveria ser
restituída. As delicadas relações entre o inconfidente e sua concubina são
expostas no processo da seguinte forma:
“Diz Antônia Maria do Espírito Santo,
menor órfã do falecido seu pai Antonio da Silva Pais, que estando na companhia
da viúva sua mãe Maria Josefa, vivendo com toda a honestidade e recato, a
principiou a aliciar o alferes Joaquim Jose da Silva Xavier, o qual debaixo de
palavra de honra e promessas esponsalícias lhe ofendeu a pudicícia, de cuja
ofensa resultou conceber e dar à luz um feto do mesmo alferes, que passou ao
extremoso excesso de arrancar a suplicante dos braços da dita sua mãe”. Depois
de apresentar um prelúdio da união entre Tiradentes e Antônia, o documento
prossegue, indicando a causa do processo: “Vivendo em sociedade por causa
daquela promessa, doou à mesma suplicante uma escrava por nome de Maria, de
nação Angola, que sucedendo ser preso o dito alferes Joaquim José da Silva
Xavier na cidade do Rio de Janeiro, foi confiscado, ou sequestrado com outros
mais bens”.
Após a descrição do caso, surge o apelo: “porque nem a razão, nem o Direito permitem que qualquer que haja de purgar o delito alheio com os seus próprios bens, e a suplicante é uma miserável órfã (...)”.
Após a descrição do caso, surge o apelo: “porque nem a razão, nem o Direito permitem que qualquer que haja de purgar o delito alheio com os seus próprios bens, e a suplicante é uma miserável órfã (...)”.
Ou seja: para reaver sua escrava,
“a menor” (como é qualificada no processo) Antônia Maria joga com informações
que levam a crer que ela foi vítima dos arroubos e das falsas promessas de
Tiradentes – que a tirou dos braços de sua mãe, deflorando-a, concebendo nela
um rebento, sem que cumprisse, contudo, a promessa de casamento. Chama a
atenção, por ser algo grave dentro do contexto da época, o fato de Tiradentes
ter faltado com sua “palavra de honra” ao acenar com promessas de casamento que
não foram cumpridas. O pesquisador do período da Inconfidência Mineira e
doutorando da USP André Figueiredo frisa o peso da palavra na Ouro Preto do
final do século XVIII e confirma a fama de boquirroto do alferes: “Numa
sociedade como a mineira, a palavra representava muito. Tudo era lavrado na base
da palavra: as compras do dia-a-dia, os relacionamentos amorosos, os acertos de
trabalho etc. Tiradentes, segundo percebo de seus depoimentos nos Autos da
Devassa, era um grande falador. Falava sem se preocupar se estava ou não
atacando as relações metropolitanas”.
Saiba Mais – Link
Saiba Mais – Filme
Os Inconfidentes
Com base
nos Autos da devassa, na poesia dos inconfidentes e de Cecília Meireles,
Joaquim Pedro de Andrade contesta versões oficiais da história da Inconfidência
Mineira, e trata da posição de intelectuais diante da prática de políticas
revolucionárias. O filme retrata a Inconfidência Mineira, movimento político do
século 18 do Estado de Minas Gerais. Faziam parte do grupo de conspiradores
contra o domínio colonial português poetas e nobres, incluindo o padre (Carlos
Gregório) e o coronel da guarnição. Realizado para a TV Italiana, RAI, como
parte da série intitulada "A América Latina vista por seus
idealizadores", Os Inconfidentes foi sucesso internacional de crítica e
público, tendo sido premiado no Festival de Veneza.
Direção:
Joaquim Pedro de Andrade
Duração:
76 minutos
Áudio:
Português
Saiba Mais – Biografia
Líder
da Conjuração Mineira de 1789, o alferes Joaquim José da Silva Xavier passou à
história como um precursor idealista e ousado da Independência do Brasil. A
Coroa portuguesa mandou executá-lo e esquartejá-lo, além de amaldiçoar seus
descendentes.
Nasceu
em São José Del-Rei (hoje cidade de Tiradentes), em Minas Gerais, no ano de
1746, e morreu em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro (RJ).
Líder
civil da Revolução de 1930 comandou a modernização do Estado brasileiro com políticas
nacional-desenvolvimentistas. No seu legado sobressaem as bases da
industrialização, a legislação trabalhista e a participação do Brasil na II
Guerra.
Nasceu
em São Borja (RS), em 19 de abril de 1882, e morreu em 24 de agosto de 1954, no
Rio de Janeiro (RJ).