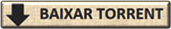A grande
imprensa viu com bons olhos as primeiras comemorações do Dia do Trabalho.
Depois condenaria a "tenebrosa doutrina" anarquista, por perverter as
manifestações operárias no Brasil.
Silvia
Regina Ferraz Petersen
Se é
difícil estabelecer com exatidão as circunstâncias em que o Dia do Trabalho foi
comemorado pela primeira vez no Brasil, podemos de qualquer modo esboçar
algumas condições históricas que cercam o acontecimento. Em fins do século XIX,
um emergente processo de industrialização passou a atrair trabalhadores para
centros urbanos como São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pelotas e
Rio Grande. A imigração, que favoreceu os contatos entre trabalhadores
brasileiros e estrangeiros, foi uma via de entrada importante - mas não
exclusiva - para as ideias socialistas e anarquistas que já animavam os
trabalhadores europeus e logo teriam aqui seus intérpretes. Não se pode
esquecer que o internacionalismo era uma bandeira de luta já levantada por Karl
Marx quando conclamou, no Manifesto
comunista, de 1848, os proletários de todos os países a se unirem. Assim, é
fácil entender que também a comemoração do 1º de maio, originária das lutas dos
operários norte-americanos e assumida na Europa, logo se difundisse no Brasil.
Mas naqueles anos, quando a República
recém proclamada parecia oferecer novas condições de cidadania, o socialismo
também inspirava uma intelectualidade progressista, formada por profissionais
liberais, jornalistas, advogados e até mesmo militares, que fundaram partidos e
"centros socialistas" visando arregimentar os trabalhadores, ao lado
das também incipientes associações organizadas pelos próprios trabalhadores
para a defesa de seus direitos. Também as orientações ideológicas socialistas e
anarquistas que inspiravam os trabalhadores possuíam diferentes matizes e eram
apropriadas com consideráveis variações. Por isso, não deve surpreender que as
interpretações da grande imprensa brasileira sobre o sentido do 1º de maio
também fossem muito instáveis. Acompanhemos então esta história.
Em 30 de abril de 1890, O Estado de S. Paulo divulgou amplamente
a passagem da data em países europeus. Não há, no entanto, referências a
comemorações no Brasil, e é provável que não tenham ocorrido. Mas, no ano
seguinte, aparecem, na capital paulista, notícias no Diário Popular da comemoração promovida pelo Centro do Partido
Operário de São Paulo, cuja orientação era presumivelmente socialista. No Rio de Janeiro, a divulgação é igualmente
breve, informando o Jornal do Commercio
a realização de uma sessão solene pelo Partido Operário de São Cristóvão,
encerrada com um concerto.
Já em 1892, o noticiário é mais
diversificado. Além do que se passou na Europa, há notícias sobre as
comemorações no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. É significativa
a informação de que, no Rio de Janeiro, "o Marechal Floriano assistirá as
festas comemorativas", pois ilustra o interesse que os políticos da jovem
República tinham em atrair a classe operária em formação, ainda que,
paradoxalmente, não houvesse de fato espaço para ela na ampliação da
representatividade trazida pelo novo regime. É um jornal da distante cidade
gaúcha de Pelotas, o Diário Popular,
que oferece os detalhes dessas comemorações: "O Centro do Partido
Operário, de que é presidente o tenente Augusto Vinhaes, realizou ontem uma
sessão magna no Teatro São Pedro. O cidadão João Villa pronunciou um discurso
violento, dando vivas à anarquia. As palavras do orador, merecendo aplausos de
uns e a reprovação de outros, produziram enorme tumulto, estabelecendo ruidosa confusão”.
As comemorações em São Paulo foram matéria
do mesmo jornal, que esclareceu terem sido promovidas pelo Centro do Partido
Operário, em cujo salão "adornado por bandeiras de várias nações"
[...] "achava-se reunida grande multidão, em sua maioria
proletários". A tribuna foi ocupada por vários oradores, sendo que "o
orador oficial, o Sr. Artur Breves, advogou a causa dos socialistas, defendendo
com ardor o direito de propriedade". Esta estranha combinação de
socialismo e propriedade privada que serve para exemplificar as múltiplas
apropriações que a teoria socialista recebeu no Brasil -, parece não ter
causado surpresas. O relato do Diário
Popular encerra com uma imagem idealizada e romântica dos trabalhadores:
"Era belo ver-se aqueles dois obscuros proletários, maltrajados, sem
camisa, no desalinho próprio do trabalhador sem recursos, sugestionando o
espírito da assembleia sob o influxo de seu verbo quente, correto, vigoroso e
por vezes até cintilante. Durante a sessão tocou uma banda de música."
Neste ano de 1892 também se comemora em Porto Alegre pela primeira vez a data,
noticiada assim n'A Federação:
"Nosso colega Dr. Colombo Leoni, redator do L’Avvenire, nos comunica que as classes operárias desta capital
também comemorarão, este ano, o 1º de maio, reunindo-se para este fim na Praça
da Alfândega, domingo, às 2 horas da tarde [...] de onde seguirão por várias
ruas da cidade em grande marcha comemorativa do dia consagrado às expansões
pacíficas do proletariado". Notícias posteriores dão conta de que foram
pronunciados discursos em alemão, italiano e português e que "reinou
completa paz".
O aspecto festivo, harmonioso e ordeiro,
que transparece nas matérias jornalísticas, experimenta, em 1893, uma primeira
e radical transformação. Coube à Liga Socialista de São Paulo promover,
conforme notícias do Correio Paulistano,
O Estado de S. Paulo e Opinião Nacional, a passeata festiva na qual, ao som
de uma banda de música e precedidos por uma bandeira vermelha, "operários
de todas as nacionalidades" saudaram o 1º de maio, percorrendo as ruas da
capital "numa ordem e harmonia invejáveis". Ocorre que nesta mesma
noite bombas de dinamite foram lançadas contra as residências de duas
autoridades, não fazendo vítimas, mas causando estragos. Os atentados, sem que
houvesse prova, foram atribuídos a operários anarquistas. A linha de apreciação
que, em decorrência do incidente, perpassa uma longa matéria publicada na
primeira página d'O Estado de S. Paulo,
de 3 de maio de 1893, e que será uma tônica, a partir daí, nos veículos da
imprensa. Segundo o jornal, as condições dos trabalhadores no Brasil,
"onde a abundância é recompensa do trabalho, em que a riqueza não
significa opressão", não justificam "as lutas sanguinolentas e o ódio
cego" que movem os operários na Europa, "onde o capital predomina e
impõe suas condições aos que só dispõem do próprio esforço para sobreviver".
Os brasileiros deviam estar "em prevenção contra futuros males que hão de
vir, com certeza, se continuarmos a transportar para o nosso país a população
anarquisadora do Velho Mundo". Em seguida, o redator sugere as medidas
policiais que deviam ser tomadas para conter "os que se rebelarem contra a
ordem social, procurando nivelar, a poder de dinamite, as classes da
sociedade": desbaratar as "propagandas subversivas", prender os
infratores e fazer a deportação dos indesejáveis, "recurso empregado em
outros países da Europa todas as vezes que os estrangeiros se tornam perigosos
para a paz pública".
A associação que foi estabelecida entre
operários e a ameaça da ordem pública se desenvolveu rapidamente. A comemoração
do 1º de maio é um bom indicador dessa transformação, pois se em 1891 a
imprensa noticiava uma festa operária, em 1894 dava contas da apreensão sobre o
que poderia ocorrer em São Paulo nesta data. Eis o acontecido: em meados de
abril, O Commercio de S. Paulo
noticiou a prisão de operários italianos, reunidos no Centro Socialista; depois
desmentiu que deste centro participassem anarquistas ou que ali tivessem sido
encontrados explosivos (parece que a denúncia partiu do cônsul italiano).
Embora o jornal não ofereça mais detalhes, estes são encontrados nas palavras do
secretário da Justiça, João Alvares Rubião Júnior, que relata haver tomado conhecimento
de que no prédio nº 110 da Rua Libero Badaró reuniam-se operários visando ao
desenvolvimento da "tenebrosa doutrina" e que então passou a vigiar
os indivíduos denunciados como pertencentes à "perigosa seita", para
no momento oportuno frustrar seus "sinistros intentos". Assim, na
noite de 15 de abril, "em uma das conferências em que se discutiam os
graves acontecimentos preparados para o dia 1º de maio, data em que comemoravam
a chamada Festa do Trabalho, foram presos dez súditos italianos, verdadeiros
anarquistas todos membros do citado Centro Socialista", dentre eles os
militantes Eugênio Gastaldetti, Felix Vezani, Augusto Donati, Artur Campagnoli
e Galileu Botti.
Estes fatos causaram apreensão quanto ao
1º de maio e a imprensa noticiou as providências para manutenção da ordem: a
cidade fortemente patrulhada, detenção de novos suspeitos e proibição da
passeata. Não obstante, à noite, explodiu uma pequena bomba próximo ao quartel
da polícia e um rapaz foi preso, embora negasse o fato e não se encontrasse com
ele nada comprometedor. Quanto aos italianos, tiveram a deportação decretada,
mas sete meses depois ainda se encontravam presos sem julgamento. O jornal anarquista
L’Avvenire em seu primeiro número, de novembro de 1894, publicou longo
editorial em defesa dos companheiros, que tinham sido objeto de falsas
denúncias. Seu destino é esclarecido pelo relatório da polícia ao secretário da
Justiça: esperaram presos no Rio de Janeiro pela deportação "tendo dali
regressado e postos em liberdade no dia 12 de dezembro por não terem sido
deportados como se requisitou".
Assim, em 1894, já estava definida a
dimensão de protesto e luta que, sob várias formas e intensidades, daí por
diante marcaria as comemorações do 1º de maio no Brasil, sempre que foram
organizadas pelos próprios trabalhadores, pois também esta data simbólica
sofreu muitas manipulações que a desviaram de sua intenção original.
No caso do Brasil, vemos a transição da
liderança de intelectuais progressistas, profissionais liberais e militares,
predominantemente brasileiros, que formaram de cima para baixo "partidos e
centros socialistas", para a presença e atuação mais visível de militantes
operários, muitos deles imigrantes, que por sua própria condição social
estabeleceram vinculações mais sólidas com os seus companheiros de classe.
Também através do 1º de maio ecoa o
desenvolvimento do xenofobismo na classe dominante brasileira, o qual cresce
paralelamente ao papel exercido pelo trabalhador europeu no meio operário
nacional. Estas manifestações, que ficam claras na imprensa da época, não se
dirigiam contra o estrangeiro como tal - que sempre teve acolhida numa
sociedade europeizante como a nossa - e sim contra lideranças operárias
estrangeiras, cujos interesses eram considerados uma ameaça aos dos
empresários.
Na ausência de uma legislação que
regulasse as relações de trabalho, o tratamento dos conflitos entre operários e
patrões logo foi entendido como atribuição da polícia, e as invasões das
associações operárias, prisão de militantes e deportação de estrangeiros
passaram a ser os métodos usuais.
Por fim, o 1º de maio expressa a nítida
percepção dos operários de então, de que as promessas republicanas não os
alcançavam e que a união com seus companheiros era a única forma de lutar pelos
seus direitos.
Silvia
Regina Ferraz Petersen é professora na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autora de Origens do 1º de maio no Brasil.
Porto Alegre: MEC IPROEDI Editora da Universidade-UFRGS, 1981.
Fonte: Revista Nossa História - Ano I
nº 7 - Maio de 2004
Saiba
Mais – Link: Sonhar também muda o mundo