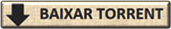Foi durante a ditadura que as grandes empreiteiras consolidaram seu
poder, em íntimas ligações com o Estado.
A Operação Lava Jato, deflagrada em 2014 em ação conjunta da Polícia
Federal e do Ministério Público, colocou atrás das grades dirigentes executivos
das maiores empresas brasileiras de engenharia. As investigações revelaram que
as empreiteiras se organizavam na forma de cartel e mantinham esquemas de
corrupção em contratos com a Petrobras. Mas este tipo de relação promíscua
entre empresários e órgãos públicos não é exatamente uma novidade. O poder e a
influência política dos empreiteiros de grandes obras devem muito ao período da
ditadura civil-militar.
As principais empresas do ramo foram
fundadas entre as décadas de 1930 e 1950, momento em que o eixo do
desenvolvimento econômico brasileiro se deslocava do campo para as cidades.
Para dar conta desse processo, foi montada uma infraestrutura voltada ao
desenvolvimento da indústria, com empreendimentos principalmente nas áreas de
energia e de transporte. O Estado demandou grandes obras para as corporações de
engenharia, ajudando a impulsionar o desenvolvimento industrial. Camargo Corrêa
(1939), Andrade Gutierrez (1948), Queiroz Galvão (1953), Mendes Junior
(1953)... como o nome da maior parte dessas empresas indica, elas tiveram em
sua origem (e têm até hoje) o controle eminentemente familiar.
O governo Juscelino Kubitschek (1956-1961)
foi muito importante para o desenvolvimento das empreiteiras, encomendando-lhes
as rodovias previstas no Plano de Metas e as obras da nova capital federal,
Brasília. As corporações do setor tiveram então um crescimento impressionante.
De pequenas e médias empresas locais tornaram-se grandes firmas nacionais. Nos
anos e nas décadas seguintes, sob a ditadura, as construtoras alcançaram uma
expansão sem precedentes, em virtude de políticas estatais favoráveis às
atividades do setor, incluindo um intenso programa de obras públicas.
Formaram-se grandes grupos na indústria de construção pesada. Com incentivo
estatal, as empresas se ramificaram para outros setores econômicos, e desde
1968 passaram a realizar obras também em diversos países. Foi a ditadura a
responsável pela gestação de grandes conglomerados internacionais liderados
pelas empreiteiras. E o poder conquistado por esses grupos consolidou-se de tal
forma que não foi abalado nem com a transição do regime político, na década de
1980.
Ainda
no período Kubitschek, os empresários da construção passaram a se organizar em
associações e sindicatos nacionais. Foram criadas entidades como a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e o Sindicato Nacional da
Construção Pesada (Sinicon) – que desempenhariam papel relevante na
desestabilização do governo João Goulart e na deflagração do golpe
civil-militar. Diretores dessas entidades participavam também do Instituto de
Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes), que reunia oficiais da Escola Superior de
Guerra (ESG) e representantes de empresas multinacionais e assumiria ativamente
a campanha para derrubar João Goulart. Caso emblemático foi o de Haroldo
Poland, presidente da empreiteira carioca Metropolitana, ex-presidente do
Sinicon e que desempenhava função fundamental dentro do Ipes. Ligado a oficiais
militares, Poland foi um dos agentes civis mais importantes no golpe de
1964.
Ao longo da ditadura, esses organismos
fortaleceram sua atuação junto ao Estado, conquistando livre trânsito em certas
agências e influenciando a agenda das políticas públicas nacionais. Enquanto as
organizações populares e os sindicatos dos trabalhadores eram cerceados e suas
lideranças perseguidas, não havia o mesmo tipo de repressão às organizações
representativas das empresas da construção civil, que se multiplicavam e tinham
intensa proximidade com certas figuras do governo. A Confederação Geral dos
Trabalhadores (CGT) e a União Nacional dos Estudantes (UNE) foram fechadas pela
ditadura, enquanto continuavam sendo criadas entidades de empresários da
engenharia, como a Associação Brasileira de Engenharia Industrial (1964), o
Sindicato da Construção Pesada de São Paulo (1968) e a Associação de
Empreiteiros do Estado do Rio de Janeiro (em 1975).
A política de repressão e terrorismo de
Estado contou com o apoio, inclusive financeiro, de empresários e empreiteiros.
A Camargo Corrêa foi uma das empresas que contribuíram com iniciativas para
desbaratar a esquerda armada e suas organizações, usando métodos que incluíam
tortura e assassinatos. A mais conhecida foi a chamada Operação Bandeirantes,
financiada por empresas como grupo Ultra, Camargo Corrêa, Folha de S. Paulo,
Nestlé, General Electric, Mercedes-Benz e Siemens.
Grandiosos
empreendimentos foram realizados durante o regime, fortalecendo as maiores
construtoras, que ficaram responsáveis pelas principais obras do período.
Itaipu e outras hidrelétricas de grande porte, a Transamazônica e outras
rodovias em diversas regiões do país, a Ferrovia do Aço e projetos no setor
ferroviário, os metrôs do Rio e de São Paulo, os conjuntos habitacionais do
Banco Nacional de Habitação (BNH, criado em 1964), as usinas termonucleares de
Angra dos Reis e a ponte Rio-Niterói foram alguns dos projetos de grande
envergadura que saíram do papel naquele período.
Com o
suporte institucional do AI-5, em 1969 o governo estabeleceu reserva de mercado
para as obras públicas realizadas no Brasil: a partir de então, somente
companhias sediadas no país e com controle nacional poderiam ser contratadas.
Várias outras medidas beneficiaram o empresariado, como isenções fiscais,
financiamento público de obras internas e no exterior, entre outras decisões
que ampliavam as margens de lucro da iniciativa privada. Em relação às
políticas trabalhistas, também houve favorecimento generalizado aos
empresários, e aos empreiteiros em particular. Medidas de “arrocho” salarial
implantadas a partir do golpe beneficiavam companhias que empregavam numerosa
força de trabalho, caso das empreiteiras. A repressão aos sindicatos permitia
que as empresas ignorassem as demandas dos operários por melhores condições de
trabalho. Com fiscalização relapsa em relação à segurança, o país virou
recordista internacional em acidentes de trabalho – no auge da ditadura,
chegou-se a registrar 5 mil trabalhadores mortos por ano, e o setor de
construção civil era um dos principais responsáveis por essas
estatísticas.
Para as empresas de engenharia era rentável
manter condições inadequadas e perigosas nas obras e não dar atenção à saúde do
funcionário, visto que as multas – quando aplicadas – eram de reduzido valor.
Quando ocorriam acidentes, era prática corrente culpar o próprio trabalhador,
isentando o empregador da sua responsabilidade. Não à toa, ao final do regime,
em meio ao processo de abertura política, eclodiram diversas greves, revoltas e
motins em canteiros de obras, inclusive em grandes empreendimentos como a usina
de Tucuruí, erguida entre 1976 e 1984 em plena selva amazônica.
Sob as bênçãos da ditadura, o Brasil viu
consolidar-se um capital de novo porte, monopolista em alguns setores da
economia – e entre estes destacou-se a construção civil. Alguns poucos grupos
chegaram a um patamar diferente, extremamente vigoroso, detendo amplo poder
econômico e político. As principais empresas beneficiadas foram Odebrecht
(Norberto Odebrecht), Camargo Corrêa (Sebastião Camargo), Andrade Gutierrez
(Sérgio Andrade) e Mendes Júnior (Murillo Mendes). Dentre os agentes políticos da
ditadura associados aos empreiteiros, destacam-se Mario Andreazza (ministro dos
Transportes de 1967 a 1974 e do Interior de 1979 a 1985), Eliseu Resende
(diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem [DNER] e ministro dos
Transportes de 1979 e 1982) e Delfim Netto (ministro da Fazenda de 1967 a
1974). O cenário forjado nos anos 1960 e 1970 foi altamente favorável ao
crescimento das atividades dessas empresas, em ambiente propício para a
acumulação de capital. A participação ativa que esses e outros empresários
tiveram junto ao governo é mais uma prova de que o regime não foi somente
militar, mas também civil, com corporações e Estado de mãos dadas em esquemas
de favorecimento mútuo. Um casamento que, tudo indica, resistiu incólume à
mudança de regime, e persiste em tempos democráticos.
Pedro Henrique Pedreira Campos é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
e autor de Estranhas Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura
civil-militar brasileira, 1964-1988 (Eduff, 2014).
Saiba mais – Bibliografia
CRUZ, Sebastião
Velasco. Empresariado e Estado na
Transição Brasileira: um estudo sobre a economia política do autoritarismo
(1974-1977). Campinas/São Paulo: EdUnicamp/ Fapesp, 1995.
DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. 3. ed.
Petrópolis: Vozes, 1981.
FONTES, Virgínia &
MENDONÇA, Sonia Regina de. História do
Brasil Recente: 1964-1992. 4. ed. atualizada. São Paulo: Ática, 1996
[1988].
LEMOS, Renato.
“Contrarrevolução, ditadura e democracia no Brasil”. In: SILVA, Carla Luciana;
CALIL, Gilberto Grassi & SILVA, Marco Antônio Both da (orgs.). Ditaduras e Democracias: estudos sobre
hegemonia, poder e regimes políticos no Brasil (1945-2014). Porto Alegre:
FCM, 2014.
Saiba mais – Documentário
Cidadão Boilesen
O documentário vai desnudar a participação do
empresariado nos governos militares, não só apoiando o golpe de 1964, mas também
financiando a repressão, à perseguição e tortura de grupos de esquerda e
revolucionários que se opunham ao regime. Para que isso fosse possível, houve
um eficiente trabalho de pesquisa sobre Boilesen (dinamarquês naturalizado
brasileiro, presidência da Ultragaz), resgatando desde a sua infância na
Dinamarca até o seu assassinato em 1971. O documentário, ainda traz depoimentos
de familiares e amigos do empresário, ex-militantes de esquerda, militares,
jornalistas, ex-governantes, membros da Igreja, ex-agentes da repressão, entre
outros personagens importantes da época.
Além
dos depoimentos, da documentação, e das falas dos personagens que vivenciaram
essa época, o documentário, fornece importantes pistas de como foi articulado o
golpe de 1964, bem como esclarece pontos importantes dessa relação entre o
empresariado e os militares neste período.
Direção: Chaim Litewski
Ano: 2009
Duração: 93 minutos
Saiba mais – Links